História
«De um dia para o outro tudo pareceu novo»: A revolução de 25 de Abril de 1974 comentada pelo P. Manuel Antunes
De um dia para o outro tudo pareceu novo. Era o fim das palavras longamente proibidas, dos gestos apertadamente contrafeitos, de uma certa mentira institucionalizada, do terror invisível mas presente em toda a parte. Era a possibilidade do termo do isolamento internacional, daquele «orgulhosamente sós» que é a contradição mesmo do mundo em que vivemos. Era o surpreso despertar de um pesadelo de anos, cada vez mais denso, cada vez mais escuro. Era o emergir da «apagada e vil tristeza» para um mundo outro, o mundo da esperança na sua dimensão histórica tangível. Era o regresso à pátria comum de tantos que dela tinham sido expulsos porque a amavam de outra maneira, mas dos quais se nos dizia, infatigavelmente, que a odiavam.
A revolução foi a festa. Festa dos cravos de maio, da confraternização do Povo e das Forças Armadas, do entusiasmo coletivo, de uma certa irmandade não fingida, de uma vasta disponibilidade à abertura, de uma, por vezes cândida e larga, espontaneidade.
E, de repente, o País pôs-se a falar. Nestes últimos quinze dias, Portugal tem sido um país que discute, um país que reivindica o possível e o impossível, um país que quer tomar nas mãos o próprio destino, um país que, embora de forma não raro confusa, se esforça por traçar o seu futuro, um país que busca encontrar a própria identidade. Como em 1385, em 1640, em 1820, em 1910, em 1926.
Reencontrar o antigo, por vezes mesmo o mais antigo, para criar algo de novo. É isso mesmo o que define nos seus dois termos opostos uma revolução. A nossa história multissecular de Povo independente é feita de espaços de continuidade e de espaços de rutura, de períodos de deterioração e de períodos de recuperação, de anos de sonolência e de momentos de crítico despertar, de estados de descrença e de instantes largos de esperança quase tão ampla como o universo e quase tão funda como a do povo teóforo.
Na realidade – sem chauvinismo, sem messianismos e sem isolacionismos de nenhuma espécie – na realidade, trata-se da história de um país que tem sido exceção, de um país que tem desafiado o “normal” das leis societárias na sua dimensão internacional, de um país, por isso mesmo, não muito compreendido nem por estranhos nem por si próprio, de um país, a um tempo, cêntrico e periférico, relativamente ao mundo atlântico e ao mundo europeu, de um país paradoxo vivo dos mais estranhos que a memória dos homens conhece.
Exceção a sua própria existência contra a “naturalidade” do sistema geográfico. Exceção a aventura fabulosa dos descobrimentos, quaisquer que tenham sido – e muitas foram, as motivações dessa “loucura coletiva”. Exceção a criação por um país tão pequeno de um mundo tão vasto e tão unido como o Brasil. Exceção a sua literatura, a mais significativa, além da grega, de um povo tão reduzido. Exceção a conservação, até hoje, de um império colonial tão largo, tão complexo, tão diversificado: de facto, e historicamente já, o primeiro e o último império colonial do mundo moderno. Exceção a maneira como há dias realizou a sua revolução política.
No século XX, o que é frequente, o que é quase de regra é que o exército faça revoluções de direita, golpes de Estado de direita, pronunciamentos de direita, com o séquito normal de violências, de tribunais expeditivos, de contrações de liberdade, de supressão dos direitos cívicos e humanos por vezes os mais elementares. Aqui, as Forças Armadas, que tinham implantado e longamente apoiado o regime deposto, operam uma revolução sem derramamento de sangue, desmantelam todas as organizações de poder e de coação em que esse regime se apoiava, instauram um dos mais amplos climas de liberdade a que pode aspirar um Estado moderno, amnistiam presos políticos mesmo que os seus “crimes” tenham tido aspetos de delitos comuns. Fazem voltar do exílio membros de partidos há longos anos proscritos, oferecem a milhares e milhares de refratários e desertores a possibilidade de integração nas tarefas comuns, inauguram processos e modos no sentido de porem termo às guerras africanas que elas há mais de treze anos aguentam e nas quais, se não têm sido vencedoras, também, em rigor, não têm sido vencidas.
Tudo isto é novo. Ao menos, em boa parte, novo, só tendo paralelo no nosso passado histórico na revolução liberal de 1820, prefácio às Cortes Constituintes do mesmo ano. Seguir-se-á 1823?
E hoje? Povo místico mas pouco metafísico; povo lírico mas pouco gregário; povo ativo mas pouco organizado; povo empírico mas pouco pragmático; povo de surpresas mas que suporta mal as continuidades, principalmente quando duras; povo tradicional mas extraordinariamente poroso às influências alheias; povo convivente mas facilmente segregável por artes de quem o conduz ou se propõe conduzi-lo, é com um povo assim, é a partir de um povo assim que se torna imperioso iniciar a nova marcha que os acontecimentos do 25 de Abril vieram inaugurar, numa das horas mais graves da história de Portugal.
A hora lírica está a passar. Começou a suceder-lhe a hora da ação. Importa, é urgente mesmo, que ela seja acompanhada pela hora da reflexão. A história mundial está cheia de revoluções confiscadas porque essa hora falhou, de revoluções traídas porque o ativismo a desorbitou, de revoluções frustradas porque o modelo – importado não raro – quebrou de encontro à realidade que pretendia afeiçoar à própria imagem e semelhança.
Sim, é imperioso partir do país que temos, do país que somos. Não de outro, situado na Europa ocidental ou oriental; não de outro, situado na Ásia remota ou nas duas Américas; não de outro, situado na África ou na longínqua Oceânia.
Muitos dos modelos – de revolução, de evolução, de estagnação, de coação – ou estão ultrapassados ou não nos servem. Isso não significa que não possamos receber lições e inspiração de aqui, de além, de acolá. Mas tal, só depois de bem filtrado o produto, de bem passado à fieira da crítica.
É fácil pôr no papel dezenas e dezenas de partidos políticos. É fácil fazer proclamações ideológicas como se elas contivessem a última e definitiva verdade. É fácil apontar programas, inumeráveis e ideais, mas que não mordem no real, como se fosse possível colocar entre parêntesis alguns dos nossos problemas mais graves: o do Ultramar, o da emigração, o dos múltiplos atrasos que nos afetam nos campos político, social, económico, científico, tecnológico e cultural.
O padre Manuel Antunes, da Companhia de Jesus (Jesuíta), nasceu a 3 de novembro de 1918, na Sertã. Foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ensinou disciplinas como História da Cultura Clássica e História da Filosofia Antiga. Recebeu o doutoramento "Honoris Causa" pela mesma universidade e foi condecorado com as insígnias de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada pelo presidente da República, Ramalho Eanes. Morreu a 18 de janeiro de 1985.
O seu nome é evocado no Prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes, que a Igreja católica em Portugal atribui anualmente, através do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e da Renascença, a uma personalidade ou instituição que se tenha distinguido pelo seu percurso humanista e cristão.
P. Manuel Antunes, SJ
In Brotéria, 10-15.5.1974
21.05.14



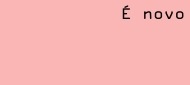




 Lisboa, 25.4.1974
Lisboa, 25.4.1974
