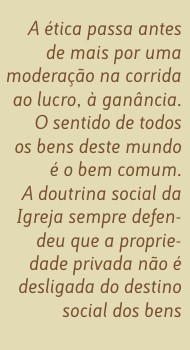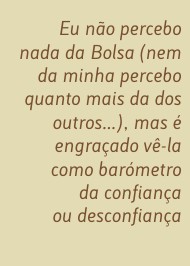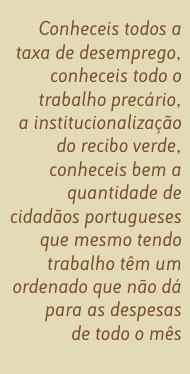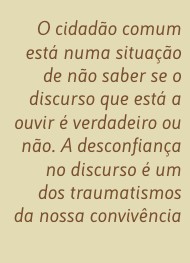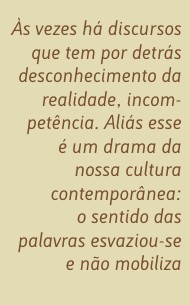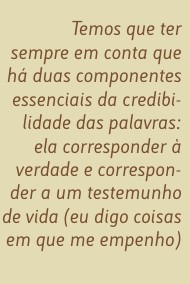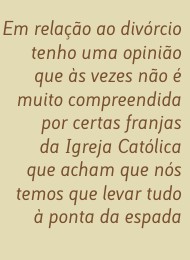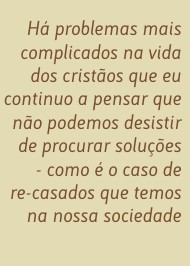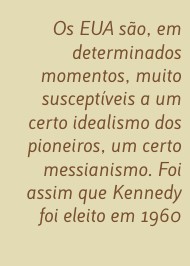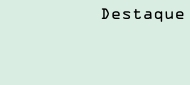

O fazer é mais importante do que o dizer. É um velho princípio da Sagrada Escritura
D. José Policarpo aborda de forma directa os temas que têm concentrado a atenção do país. Das obras públicas (que “não devem ser abandonadas de uma maneira fácil”), à oposição (que tem sido “mais frágil do que a governação”), passando pela crise e os novos pobres (que o “discurso inflacionado dos políticos tende a esconder”).
A Igreja Católica e o senhor cardeal não têm partido político, mas não são imunes à instabilidade política do país. Um Governo de maioria ajuda a dar estabilidade?
Teoricamente sim. Uma das características dos governos democráticos que conhecemos é que são frágeis. A meio do mandato começam a pensar no próximo ciclo eleitoral. Mas não é só por isso, é também porque estão sujeitos (e bem) a mecanismos complexos de aferimento das decisões. Graças a Deus as ditaduras já acabaram. Houve ditadores que decidiram bem, mas por outro lado não estão sujeitos às peritagens das decisões. Os governos eleitos têm de convencer e não impor. Uma maioria é saudável.
E, ainda mais, no momento actual do país?
Não sei dizer, também não sou contra governos de coligação desde que apresentem perspectivas idênticas. Se uma corrente política está no governo e outra tem soluções parecidas, a convergência de soluções é boa.
Disse há pouco que esta crise vai fazer repensar modelos…
A civilização ocidental criou um paradigma de estilo de vida e de nível de vida. Há um estrato dentro da população que se sente injustiçada porque o Estado, as empresas, os sindicatos, porventura a Igreja, não lhes proporcionaram que atinjam esse nível de vida. Uma divisão social é inevitável. Todas as crises podem ter aspectos positivos. Aliás é nas grandes crises e nos grandes sofrimentos colectivos que a humanidade dá saltos qualitativos em frente.
Se fosse primeiro-ministro quais seriam as suas prioridades?
Não estou preparado para dar essa resposta. Há uma prioridade que é mais psicológica: penso que devemos fazer tudo para não criar o alarme. Já está suficientemente claro que a humanidade vai passar por um momento difícil. A pior coisa que podia acontecer agora era a desconfiança, por exemplo, em relação ao sistema bancário. Seria um desastre colectivo. Mas não é só essa confiança imediata, é também uma co-responsabilização de todos para ajudar com generosidade.
Tem visto esse discurso?
Penso que sim, esse é um dos dados positivos da reacção positiva de governos e empresas. Eu não percebo nada da Bolsa (nem da minha percebo quanto mais da dos outros...), mas é engraçado vê-la como barómetro da confiança ou desconfiança. O mundo empresarial é o que vai demorar mais tempo a recuperar porque é o que está mais ligado à circulação do dinheiro. Neste momento, é preciso um Orçamento do Estado que não renuncie ao funcionamento normal de Portugal, mas que seja muito objectivo e que dê prioridade ao problema das famílias e dos trabalhadores. Se as pessoas sentem que mais uma vez são elas que vão pagar o preço pela crise, isso não ajuda a confiança colectiva.
É uma preocupação que tem notado?
Tem havido no discurso político… mas há também uma confiança porventura inflacionada de que Portugal não correrá riscos.
O desenvolvimento do país passa por essas obras públicas?
Numa percentagem muito diminuta. Passa onde traz riqueza, emprego, desenvolvimento. Um país que não tenha as infra-estruturas necessárias não se desenvolve. Agora, se as infra-estruturas que se pretendem são mesmo essenciais, isso não sei dizer. Um bom aeroporto internacional é importante. Isso é fácil de compreender.
E as novas concessões rodoviárias?
A construção de mais uma auto-estrada pode trazer emprego a uma série de famílias, o que contribui para resolver o seu problema. Há um dado de que se tem falado pouco, que é o problema do endividamento. O que é que estes projectos significam em termos de endividamento público? Se às tantas devermos mais ao estrangeiro do que o que produzimos...
Não fazer as obras não era uma forma de parar o país?
As obras públicas devem-se fazer, se for possível. Tenho uma atracção pela modernidade, tudo o que são maravilhas da tecnologia sempre me fascinaram, por isso, ter um TGV a passar pelo nosso país fascina-me. Não vejo porque não. O problema é se é possível, necessário e há dúvidas sérias sobre isso. A minha tese em relação a estes grandes empreendimentos é que foram muito bem estudados e não há razão para serem abandonados de uma maneira fácil. Mas há-de haver a coragem para os retardar se houver razões sérias para isso.
Gostava que avaliasse os dois grandes poderes políticos e institucionais do país: por um lado, estes três anos e meio de Governo (com o momento importante de que nos aproximamos, três actos eleitorais que podem trazer importantes mudanças), por outro lado o desempenho do Presidente da República.
É evidente que não lhe vou fazer isso. Sou amigo das pessoas. Em relação ao Presidente da República - como em relação ao anterior - não tenho problemas em dizer que aprecio muito a serenidade e o equilíbrio com que tem seguido a alta magistratura da Nação. E o que digo do actual – de quem sou amigo pessoal há muito tempo -, digo em relação ao mandato de Jorge Sampaio. São pessoas que têm exercido muito dignamente o cargo. Quanto ao Governo, pessoalmente, relativizo a filiação partidária para estar mais atento às ideias, à qualidade e à acção. Nesse aspecto, penso que este Governo tem coisas notáveis, de abordagem dos problemas e de os implementar. Porventura não conseguiu todas as soluções anunciadas, como os governos anteriores também não.
Considera este um Governo reformista ?
Este Governo apareceu com algo que me foi simpático que foi a coragem de decidir – o que é bom, tendo em conta que os governos democráticos são normalmente frágeis. Há sectores da governação que me parecem globalmente positivos.
Quer dar um exemplo?
Não. Mas a este Governo, se me é devido pedir-lhe uma coisa, peço algo (que provavelmente é o impossível): que não sacrifique esta objectividade da governação ao desejo de ser eleito daqui a uns meses. Penso que os portugueses apreciariam muito um Governo que mantivesse a frieza e o objectivo de análise, mesmo em campanha eleitoral.
Disse recentemente que lhe faz muita confusão como um sistema global da economia e das finanças é tão frágil ao ponto de um banco ir à falência de um momento para o outro. Pediu “criatividade” para que se mude o sistema financeiro. Que criatividade é essa de que fala?
Penso que existem duas vertentes que se devem encontrar em busca de uma solução. Um desafio científico que envolve as ciências económica e política (que devem rever a convergência entre o papel do Estado e dos agentes da liberdade económica). A liberdade económica tem-se afirmado com uma das principais expressões de liberdade, mas como toda a liberdade tem que ser compensada com responsabilidade em ordem ao colectivo. Isto pressupõe uma dimensão ética e uma regulação de quem tem obrigação da harmonia de conjunto.
Foi-se longe de mais na liberdade económica?
Não sou técnico. Mas foi-se longe demais na ausência de dimensão ética. Hoje antes de chegarem estava a dar uma vista de olhos aos jornais e aparece mais um caso de um homem insuspeito, foi governador de velha data [no Alasca], símbolo da probidade e que está à beira de ir para a cadeia.
Mas a ética é muito difícil de regular…
A ética passa antes de mais por uma moderação na corrida ao lucro, à ganância. O sentido de todos os bens deste mundo é o bem comum. A doutrina social da Igreja sempre defendeu que a propriedade privada não é desligada do destino social dos bens. Mas parece que não houve apenas imprudência houve também incompetência e ganância na gestão destes produtos financeiros.
O Estado é co-responsável por esta matriz?
Repare, neste sistema de liberalismo económico como sabem tem-se oscilado entre uma demasiado intervenção do Estado e uma nula de intervenção do Estado. Por isso digo que a criatividade passa pela ciência política. Não sou apologista da nula intervenção do Estado mas também não sou partidário de um intervencionismo tal que condicione e limite a liberdade económica. A razão de ser do Estado é a harmonia da sociedade na medida em que a regulação ajude todos sem cortar a liberdade. Mas, porventura, o Estado tem que ser dinamizado por dimensões éticas claras. Agora a desconfiança em relação à banca seria um desastre para o país.
A Igreja Católica acompanha de perto a evolução das franjas mais necessitadas da sociedade, nomeadamente, através das IPSS. Qual é, neste momento, o principal problema social do país?
O curioso desta crise, num certo aspecto, foi não termos a possibilidade e, porventura, critérios para embarcar nesses fundos que fazem parte do problema e ainda não se percebeu se fazem parte da solução. Portugal desse modo está numa situação menos grave porque num determinado momento (não sei por que razão, certamente porque não tinha possibilidade de o fazer) não embarcou nesses fundos. Por outro lado esta crise cai em cima de dados preocupantes: conheceis todos a taxa de desemprego, conheceis todo o trabalho precário, a institucionalização do recibo verde, conheceis bem a quantidade de cidadãos portugueses que mesmo tendo trabalho têm um ordenado que não dá para as despesas de todo o mês…
Os novos pobres, os que trabalham mas que não conhecem pagar as suas despesas…
Os novos pobres que não entram nos ‘rankings’ como desprotegidos mas que são pobres porque a sua situação económica não é suficiente. Sem me pronunciar sobre o ponto de vista técnico, acho que o sentido das medidas tomadas para ajudar estas pessoas é o correcto. Mas o consumo tem limites e a publicidade como tem sido feita também deve ser posta em causa com esta crise.
Mas qual é o maior problema social do país?
Os novos pobres são um novo dado que agrava a ideia que já tínhamos de que existe um sector vasto da nossa população nessas condições. É evidente que a Igreja não tem soluções globais para este fenómeno, nem deve tender tê-las, porque é uma função da sociedade enquanto um todo. Penso que todos devemos trabalhar para ter uma ideia mais exacta sobre isso, que o discurso político tende a esconder, a camuflar.
Não se diz a verdade em Portugal?
Penso que uma coisa ou outra se dirá. Mas o cidadão comum está numa situação de não saber se o discurso que está a ouvir é verdadeiro ou não. A desconfiança no discurso é um dos traumatismos da nossa convivência. O que não quer dizer que nunca se diz a verdade, Santo Deus! Mesmo os que mentem às vezes se distraem não é? (risos)
Mas no discurso político, mente-se?
Numa compreensão bastante global que não é apenas no discurso dos políticos. Às vezes há discursos que tem por detrás desconhecimento da realidade, incompetência. Aliás esse é um drama da nossa cultura contemporânea: o sentido das palavras esvaziou-se e não mobiliza. Essa desconfiança é perfeitamente justa. Nós sentimos esse fenómeno dentro da própria Igreja. Temos que ter sempre em conta que há duas componentes essenciais da credibilidade das palavras: ela corresponder à verdade e corresponder a um testemunho de vida (eu digo coisas em que me empenho). O fazer é mais importante do que o dizer - É um velho princípio da Sagrada Escritura.
E tem faltado esse fazer?
Não sei, não é minha intenção fazer juízos políticos. A governação também se complicou muito nos últimos tempos.
Porquê?
Porque a sociedade é complexa. Não vou transformar-me em analista político, mas tenho a sensação que o problema é tanto dos governos como da oposição. A oposição devia ser uma forma de apresentar alternativas.
E não apenas uma crítica.
A saúde e a harmonia do crescimento das sociedades ocidentais dependem muito disso. Quero dizer que as oposições têm sido mais frágeis ainda nos últimos anos do que a governação.
Como define neste momento as relações entre Estado e Igreja, tendo em conta que a Concordata que foi assinada em 2004, ainda não foi regulamentada?
Institucionalmente, não há nada de anormal. Há pequenos entorses. Em Portugal há uma distinção muito grande entre o que se decide nas conversas e nos ‘guichets’. Institucionalmente não há nenhuma razão para estarmos alarmados, porque a Concordata é um texto mais de cariz constitucional do que legislativo e regula as bases da relação entre Igreja e Estado. Qualquer Concordata precisa de ser, depois, concretizada em leis e regulamentos. Assumiu-se uma posição prudente de, nas matérias comuns – capelanias militares, prisões, hospitais, efeitos civis do casamento religioso, educação… -, manter-se em vigor a legislação antiga até que houvesse nova legislação. Acontece que esta nova legislação tem sido lenta. Mas, na tal decisão de ‘guichet’, esqueceu-se que a antiga legislação está em vigor.
Em que casos sente isso?
As capelanias hospitalares foi onde se avançou mais em termos de negociação, mas houve hospitais que recusaram contratar capelões, ou que não os contrataram segundo o estatuto legal em vigor; nas prisões tem sido praticamente impossível nomear novos capelões. Nas Forças Armadas não estou muito informado porque é um sector à parte e tem um bispo próprio – já falei com o senhor ministro e com o senhor Chefe de Estado Maior General. Mas não é o atraso que está a criar engodos é o ter-se caído, nas questões práticas, numa espécie de vazio legal quando não havia razão para isso porque estava completamente instituído entre o governo português e a Santa Sé que a legislação continuaria em vigor até ser substituída.
Vê saída para isso? Já há meses se espera a regulamentação…
Sim. A atitude oficial do Governo tem sido construtiva e, em todos os sectores, há diplomas a avançar. Uma Concordata bem regulada é um elemento estabilizador no contributo que a Igreja tem de dar à sociedade e na relação pacífica da Igreja com as outras entidades da sociedade.
O Governo alterou recentemente as regras do divórcio e Parlamento discutiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como é que a Igreja vê estes dois diplomas, um que foi aprovado...
Outro que se espera que não venha a ser aprovado! [Casamento entre pessoas do mesmo sexo].
Mas está pelo menos prometida a discussão em 2009.
Em relação ao divórcio tenho uma opinião que às vezes não é muito compreendida por certas franjas da Igreja Católica que acham que nós temos que levar tudo à ponta da espada. Não está em causa o ordenamento e compreensão do casamento canónico. A Igreja reconhece que o Estado tem todo o direito de considerar o casamento uma instituição da sua jurisdição. Mas tirando a questão do divórcio, a compreensão do casamento adoptada pelo civil foi muito próxima ou praticamente idêntica à do casamento canónico: é um contrato entre duas pessoas, que dão origem a uma instituição de referência na sociedade com responsabilidades institucionais em relação aos filhos, uma ao outro, e à sociedade como um todo.
E em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo?
É um assunto mais complicado. A homossexualidade sempre foi conhecida, desde a Antiguidade, portanto não me pronuncio sobre a sua origem. Pastoralmente, sempre tivemos em conta que esses nossos irmãos e irmãs – e as irmãs são um dado novo do nosso século – deviam ser acolhidos. Eu próprio ajudei muitos a equacionar esse problema e bem.
A homossexualidade é um problema?
É um problema pessoal. É perfeitamente ilusório não dizer que o é. Mas que a solução dessa gente seja um casamento traz-nos de volta ao problema de há pouco. Eu costumo brincar, dizendo: “Escolham outra palavra porque essa está no dicionário e está prisioneira” – e está também na nossa Constituição. Significa, há milénios de civilizações ancestrais, a complementaridade entre homem e mulher. Portanto introduzir este dado é alterar completamente os pressupostos, com repercussão sobre o casamento heterossexual. Espero que os nossos decisores, políticos e legisladores, tenham um bocadinho em conta a cultura de onde vimos, e a compreensão profunda do povo português da realidade e que não olhem só para o momento que estão a passar, entusiasmados com um progressismo. Dá ideia, hoje, que estas coisas são sempre a última moda. Há problemas mais complicados na vida dos cristãos que eu continuo a pensar que não podemos desistir de procurar soluções – como é o caso de re-casados que temos na nossa sociedade. Para uma alteração radical, a 100%, da visão da sexualidade humana eu não tenho mandato. Nem convicção pessoal.
Ainda se sente “papável”?
Nunca senti. Foi um boato que lançaram para aí – era uma boa partida que Deus me pregava… A escolha de um Papa é uma coisa séria. Se tiver que ser… Mas não me importava de não voltar a participar numa coisa dessas. É muito tenso. E toda aquela pressão mediática… Considero-me bastante vacinado em relação a isso, mas senti essa pressão. Depois, quando entrámos [na Basílica de São Pedro], não tínhamos nem telemóvel, por isso estávamos.
O Papa Bento XVI anunciou recentemente uma visita a Angola. Como avalia esta aproximação e que papel é que a Igreja portuguesa e o Estado português podem ter?
Foi para mim uma surpresa, mas vejo-a com muito agrado: enquadra-se na primeira visita de Bento XVI a África e compreendo que o Papa escolha Angola. É um país que ainda se está a refazer de um período muito doloroso. E quem conhece a realidade angolana sabe que há dois mundos que se contrapõem: uma explosão de desenvolvimento e os pobres, mutilados, a vender coisas para sobreviver, É um país que está a refazer-se de um grande traumatismo, pode vir a ser o maior país católico de África - se não o é já, porque a Igreja católica em Angola representa 60% da população. E pode ser um país de referência a nível de desenvolvimento económico, por isso é normal que o Papa tenha uma atenção particular por um país destes.
Como define as relações entre Portugal e Angola?
A nossa relação com Angola e vice-versa é um caso paradigmático. Conheço muito bem o ultramar, fundei universidades católicas em Angola e em Moçambique. Temos ainda com o povo angolano uma sintonia afectiva que já não existe em Moçambique. São uns amores para nós e nós também precisamos deles.
Não acha que ainda se sentem? Temos a melhor relação e em alguns momentos a mais difícil.
Sinto que estamos num bom momento. É um caso curioso de sintonia e oxalá que Angola venha a ser um grande país africano. Há ali grandes oportunidades como as infra-estruturas e a educação: são os dois grandes desafios, os baluartes para fazer de Angola um país moderno.
Se tivesse votado nos EUA tinha preferência?
Por contraste – e sem conhecer muito a personagem –, preferia Barack Obama. Os últimos anos dos EUA foram muito maus para a humanidade, daí a minha preferência. Um homem que fala bem tem uma arma tremenda – depois não se sabe e se consegue fazer tão bem como fala. É outra questão. Mas há um dado essencial: os EUA são, em determinados momentos, muito susceptíveis a um certo idealismo dos pioneiros, um certo messianismo. Foi assim que Kennedy foi eleito em 1960. Não passava pela cabeça de ninguém que um jovem católico – foi o primeiro presidente católico dos EUA – conseguisse dar aos americanos o “sonho”. Ele percebeu que os americanos podem ser galvanizados por um sonho, por uma esperança – e, com esse tom, acertou. Mas parece-me mais significativo se os democratas conseguirem a maioria na Casa dos Representantes e no Senado do que Obama ser eleito para a Casa Branca.
Entrevista conduzida por António Costa e Francisco Teixeira
06.11.2008
Topo | Voltar | Enviar | Imprimir
![]()