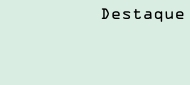

O poeta na cidade, hoje
O que permanece os poetas o fundam
Hölderlin
Um grande pensador e ensaísta da nossa vizinha Espanha, Ortega y Gasset, era de opinião que
a humanidade se dividia em duas espécies: os poetas e os outros. A fórmula não ratifica a célebre exclusão platónica dos poetas da cidade para que esta possa viver em paz; faz da cidade duas cidades, mas agora privilegiando os poetas. São os que não são poetas que não serão, ou serão menos humanidade que os outros. Mas quem distingue ou separa os que são poetas dos que não são poetas?
Ortega y Gasset foi um grande filósofo, mas não foi o que chamamos, na sua acepção maior, um poeta. Não foi, por exemplo, Antonio Machado que o admirava e que era tão nuamente poeta que nem o parecia. É a espécie mais rara, a dos que evocando apenas o rumor de uma fonte num pátio de Sevilha são como os lírios do campo, beleza saída incólume das imaginárias mãos de Deus. Ou Rilke, supondo, menos ingenuamente, como nós esperamos dos poetas refinados, que as pétalas de uma rosa possam ser
o sono de ninguém
sob tanta pálpebra.
A nenhum deles ocorreria imaginar que a poesia fosse ocasião para separar a humanidade em duas - a dos ricos de sonho e a dos privados de sonho, pois cada um pensava que a poesia é aquele milagre - esse sim, raro como a graça - que permite aos homens comunicarem-se naquilo que os une, simbolicamente, para sempre, subtraindo-os à solidão e à finitude que é a sua sorte comum fora desses momentos em que literalmente ficam fora de si, e no centro de tudo. É nesse sentido que a beleza, aquela que num poema se manifesta e nos toca é, como queria Keats, uma alegria para sempre. E nisto não são a poesia nem o poema diferentes de todo o acto criador, salvo na matéria dela que não é o som como tal, nem o ritmo, nem a forma, nem a cor, nem o volume, nem a imagem, mas unicamente a palavra, luz com que lemos o mundo e o mundo nos lê antes de termos plena consciência disso. A palavra na sua função de designar o mundo para o converter em mundo criado por ela. É na diversa relação que temos com as palavras, o poeta em nós e o não-poeta que somos todos, antes do poema com que nos separamos da nossa vida quotidiana, que reside a diferença entre os poetas e os outros.
Na medida em que somos donos das palavras, em que nos servimos delas atingindo o alvo, a nomeação das coisas, do mundo, das emoções, dos sentimentos, como se nomeá-los fosse possuí-los, nós não temos um uso poético das palavras. Nós vamos apenas pela estrada da vida coleccionando pedras brancas como o Polegarzinho para não nos perdermos. Nós não sabemos ainda que estamos perdidos, que o mundo é uma floresta e um labirinto de que ninguém tem o segredo, a chave e a saída se não forjar por suas próprias mãos as letras, as letras essenciais que esperam por ele para que o mundo se lhe revele. Para o comum dos mortais, para nós todos, vivendo o que chamamos “a nossa vida”, as palavras que nos foram ensinadas, o código da sua utilização, são suficientes. E de algum modo, uma bênção e um sossego. Mas há outros, os que sob a superfície lisa das águas escutam um rumor, um apelo que, literalmente falando, os não deixa viver, ouvindo o já ouvido, mesmo o mais belo e sublime, e buscam por sua conta a melodia única que lhes explicará o tempo que é o seu próprio tempo, e que não sossegam enquanto o não inventam e se perdem nele para se salvar. São eles que nós chamamos poetas. São os que acrescentam a criação à criação e assim renovam o mundo.
A justo título, pensavam os gregos - nossos mestres em Ocidente - que o canto dos poetas - que foi como canto, em sentido próprio e original que o poema encarnou - nos vinha do alto, de onde tudo vem, pois é no centro do que chamamos mundo que o sol nos contempla e suscita a nossa confusão e absoluta adoração. O Ion de Platão chama a esse sopro, a essa invasão misteriosa do ser, inspiração. Ainda se chama assim hoje, embora a modernidade poética julgue ilusória ou pleonástica esta origem, digamos, objectivamente transcendente da poesia. Em tempos de desencantamento do mundo, como há muito é o nosso, um dos maiores poetas desse desencanto, se não o maior, descreveu esse adeus às musas, fontes da antiga inspiração, de irónica e melancólica maneira:
Os antigos invocavam as Musas.
Nós invocamo-nos a nós mesmos.
Não sei se as Musas apareciam -
Seria sem dúvida conforme o invocado e a invocação. -
Mas sei que nós não aparecemos.
***
Que figura é agora a do poeta num mundo que se converteu, sem metáfora alguma, em televisão, e onde tudo, sem excepção, mesmo a morte apocalíptica se dissolve apenas acontecida, como uma bola de sabão? A sua única finalidade é conservar-nos sem sono, 24 horas por dia para que nos seja impossível imaginar-nos seres humanos dignos de um destino que redima o mundo. Nela, para ela, somos apenas espectadores e consumidores da nossa existência, figuras do divertimento e do esquecimento de nós mesmos em que a nossa cultura se converteu.
Como imaginar o papel do poeta na cidade quando a cidade, espaço de residência e de comunicação do que nós somos como vocacionados para o mais exigente e urgente - habitar o mundo como humanidade - se está convertendo, ou já se converteu, em anti-cidade, gigantesco circo romano onde todos somos os leões de nós mesmos?
Ao fim e ao cabo a antiga morte romântica, a de Antero, como muro contra o qual construíamos a nossa figura, era uma solução, como o grande poeta Cavafis dizia dos bárbaros:
aquela gente era uma solução.
Tudo se passa como se as nossas razões de ser, aquelas que o poeta e a poesia sempre exprimiram, só encontrem ainda um sentido na contemplação - e, de algum modo, na redenção - do caos que nós mesmos fabricámos, à espera que um novo homem, por nós mesmos criado, sem nos revelar o mistério do mundo, nos dê um rosto e um coração capaz de habitá-lo, como se o caos fora tão excitante, tão deslumbrante como o Paraíso de onde outrora nos supusemos expulsos. (...)
Em meio século, passámos da visão da essência e do papel da poesia como casa do ser - quer dizer, da utopia romântica que vê na poesia o acto fundador da Humanidade, o único que lhe confere um sentido, como o evocado por Hölderlin - para uma espécie de «no man’s land» de filme apocalíptico, entre cujos destroços buscamos os vestígios do esplendor perdido. Aquele que mal encontramos na Natureza que era a sua fonte inesgotável e hoje nos aparece já como um milagre não renovável. Escusado será dizer que o não encontraremos na História de onde há quase 200 anos esperamos a Revelação e que muito shakespeareanamente continua a ser uma história de loucos contada por loucos.
Onde antever a esperança neste mundo, por fora mais deslumbrante e rico de promessas do que nunca o foi, e por dentro tão desolado e crepuscular? Sempre a poesia foi para os homens a invenção de uma realidade e de um mundo outro, onde o nosso, o único que existe, redimia o primeiro das suas misérias, terrores, ou frustrações insanáveis. Mas sempre os homens pensaram que esse manto de sonho ou de utopia, sem o qual não podem viver, era a mesma coisa que a ilusão. De um lado, os poetas que no sentido mais fundo não seriam deste mundo, do outro lado os não-poetas, os que paradoxalmente estariam na verdade aceitando o mundo tal como ele é. De um lado o sonho, do outro a verdade, a crua realidade, imune ao sonho. Que pode a poesia se não pode mudar o mundo, nem dourá-lo para que nos seja mais habitável?
Para nossa consolação e esperança, a poesia não foi nunca este salto fora do mundo, esta invenção de uma música para o nosso coração que nos impeça de ouvir a dor do mundo. Foi - é - a música mesma do que somos como seres vocacionados para a felicidade, para a alegria, para a mais alta existência de que só na poesia e enquanto poesia se tornam reais e são a única realidade, a que merece esse nome. É o mundo que sem ela não tem nem terá jamais a realidade que lhe atribuímos.
A poesia - quer dizer a longa trama dos poemas onde a humanidade a si mesma se construiu, a única arca de Noé que sobrevive a todos os dilúvios - não é a nossa maneira de nos evadirmos do que somos mas de nos apercebermos, embora em figura, como dizia São Paulo, de quem verdadeiramente somos. É uma barca de palavras, mas tem o poder de transfigurar o que é opaco e não humano naquela realidade que tem um sol no meio e chamamos vida, a nossa vida, a nossa única vida. É só nela que nos é dado tocar e ser tocado por aquilo que uma nossa maravilhosa poetisa, Fiama Hasse Pais Brandão, chama o sol da realidade. E como só um poema, que é sempre a poesia toda, diz o que a Poesia é, terminarei com ela:
Uma casa que sonha com o mar
tem a luz que está a ser sonhada.
Nela, os habitantes vivem e morrem,
ouvindo só o som do mar distante.
Porém um dia, os habitantes saem
para o mar. A casa acorda
e não mais se recorda do seu sonho,
deixando entrar outro sol da realidade.
Saiba mais sobre a Revista Relâmpago n.º 22, dedicada a Eduardo Lourenço
Eduardo Lourenço
23.10.2008
Topo | Voltar | Enviar | Imprimir
![]()