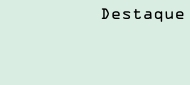

Reconciliação com os artistas. O caso da arquitectura
Falar em reconciliação com os artistas implica assumir a existência de uma ruptura ou de um conflito anterior — neste
caso, um conflito entre a Igreja ou o cristianismo e o mundo da arte, incarnado na pessoa do artista. Ora, uma reconciliação implica, antes de tudo, correcta compreensão e avaliação dos conflitos que provocaram a ruptura, assim como o reconhecimento dos problemas que lhes estiveram inerentes; e implica a superação, de ambos os lados, das razões que originaram os conflitos, para abrir um futuro novo, para lá do que separa, na descoberta de razões eventualmente desconhecidas de confluência possível.
É claro que, no caso da relação difícil entre Igreja e artistas, ao longo dos últimos dois séculos, por um lado, as razões dos conflitos são numerosíssimas e complexíssimas; por outro lado, uma completa reconciliação não é ainda realidade — nem será talvez completamente possível. Por isso, nas linhas que se seguem, serão apresentadas, de forma muito abreviada, apenas algumas dessas razões, assim como propostas de um encontro que, podendo sem dúvida ser muito fértil, nunca estará isento de tensões e mesmo de mal-entendidos. Mas não deixa, por isso, de ser menos desafiante, para uns e para outros.
1. Rupturas
Um primeiro passo destas breves considerações pretende reflectir, sem preocupações de pormenor histórico, sobre um percurso da cultura moderna e contemporânea, que terá levado ao afastamento entre Igreja e arte, espelhado em todas as artes, particularmente na própria arquitectura, como imagem primeira do dinamismo de qualquer sociedade. Esse percurso de colisão estende as suas raízes a uma aliança que se tornou problemática (1.) e que, a partir dessa problematicidade, originou pretensões concorrentes e, por isso, conflituosas (2.). Mas o caminho da modernidade encarregou-se de manifestar os equívocos desse confronto (3.), abrindo assim as portas a uma possível (re)aproximação.
1.
É claro que o pressuposto, cultural e historicamente mais remoto, daquilo que aconteceu na modernidade se situa já na Idade Média e pode ser interpretado como leitura da arte enquanto (“serva” do cristianismo. Evidentemente que a questão não pode ser abordada partindo simplesmente dos nossas actuais coordenadas de leitura. Em primeiro lugar, porque nem existia, na época, uma noção de arte tão precisa e restritiva como na actualidade; muito menos existia qualquer ideia de “autonomia” da arte ou do artista, o que também tornava estranha a ideia de um génio criador independente de toda a funcionalidade e de todo o serviço a uma causa maior que ele. Por isso, o “servilismo” da arte, em relação ao cristianismo, não possuía significado negativo, antes pelo contrário. A grandeza da actividade artística era potenciada, quando esta era colocada ao serviço dessa convicção religiosa, sobretudo no seu culto — como provam as catedrais e toda a produção artística que englobam.
Mesmo relativamente ao artista, em sentido pessoal, não podemos partir da mentalidade individualista que os últimos séculos instauraram no ocidente. A pertença do artista à comunidade - assumida como cristã - faz com que as suas obras - tantas vezes anónimas - pudessem ser vistas como expressão do “homem cristão”, enquanto modo supremo de se ser humano.
De qualquer modo, foi esta situação que originou problemas, quando o mundo, em que ela era assumida evidentemente como positiva, deixou de ser o mundo das evidências, sendo colocado em causa por cada vez mais europeus, sobretudo por intelectuais e artistas.
2.
Podemos então dizer - de modo demasiado genérico, sem dúvida - que a entrada da modernidade (já na renascença mas, sobretudo, no romantismo e no que se lhe seguiu) implicou a progressiva afirmação da autonomia da arte e do artista, por reacção contra esse “serviço”, que passou a ser visto de modo negativo, como servilismo anulador de liberdades. De uma arte assumidamente ao serviço da religião passou-se a uma arte independente, que pretendeu afirmar-se, cada vez mais, como uma forma de “religião”.
Como seria de esperar, estas transformações originaram conflitos. Por um lado, do ponto de vista social, porque o processo de independência da arte em relação ao cristianismo implicou a recusa explicita da intromissão daquele nesta - o que se manifestou, entre outros aspectos, na recusa do recurso a temáticas explicitamente afins ao cristianismo. Por outro lado, dadas as pretensões “religiosas” da arte, que faziam dos artistas uma espécie de sacerdotes de um novo culto, é natural que surgissem conflitos com o cristianismo, que não poderia aceitar essas pretensões e que, em certa medida, era visto pela arte como “concorrente”. Assim, a arte surgiu como concorrência “secular”, relativamente às pretensões englobantes e mesmo espirituais do cristianismo.
3.
Entre as características “religiosas” da arte romântica e moderna, está aquela ideia fundamental de que a arte poderia ser o único caminho de salvação que ainda restaria a uma humanidade desiludida com todas as antigas propostas. Ora, como essa proposta salvífica era claramente diferente da cristã, não poderia ser senão anti-cristã - pelo menos, assim foi vista muitas vezes pela Igreja e assim foi, de facto, frequentemente.
Ora, o percurso da modernidade, na sua fase mais tardia e que penetra na cultura contemporânea, encarregou-se de instaurar uma clara desilusão relativamente ao valor salvífico da arte. Dessa desilusão poderia surgir a aceitação de novos serviços — o que aconteceu, relativamente a não poucas ideologias — ou a recuperação do antigo serviço ao cristianismo — o que raramente se deu — ou o abandono ao nihilismo desiludido, que abandona qualquer ideia de salvação esperada. Este último foi o caminho mais procurado pelos artistas do último século, que acabaram por conduzir a arte ao encerramento sobre si mesma, como produto que apenas a si mesmo se procura.
Só que, essa arte que abandona a relação ao mundo — sobretudo ao mundo humano — e se concentra sobre si mesma e sobre as suas estruturas internas, herdou ainda da modernidade o seu gesto irrecusavelmente critico. Se, até então, aplicava a sua critica mordaz a realidades que lhe eram exteriores - ao próprio cristianismo, à vida social injusta, ao mundo real, em nome do mundo desejado e esperado — agora só pode virar a critica contra si mesma. Mas, concentrada e atarefada nesse trabalho, acaba por se moer a si mesma, na mó da crítica infinda. A arte, autónoma e finalmente só, mata-se a si mesma, perdendo o seu próprio sentido. O nihilismo extremo estaria assim conseguido.
Mas, onde se manifesta o perigo, ai surge a salvação. A percepção deste desfecho nihilista da modernidade constitui, na actualidade, oportunidade nova para uma ressurreição da arte, que me parece poder aliar-se, nessa via, com o cristianismo - já não como serva, mas como companheira de viagem, a caminho de nina mesma terra prometida.
2. Aproximações
1.
Do ponto de vista geral e com possibilidade de aplicação a todas as artes - ao fenómeno artístico, na sua totalidade, como produção, obra e recepção - poderíamos estabelecer uma aliança com o cristianismo a partir de três elementos fundamentais.
Em primeiro lugar, relativamente à hermenêutica ou interpretação da realidade, presente no cristianismo e na arte. Independentemente da variedade de modos possíveis, poderíamos dizer que ambos lêem o real como um «milagre do ser», isto é, como existência independente de toda a justificação racional ou mesmo científica. Tudo o que e, é simplesmente “porque sim”, isto é, de modo gratuito e sem merecimento ou exigência lógica prévia.
A leitura deste “milagre” primordial provoca no ser humano uma atitude de “espanto” pelo facto de tudo ser, em vez de nada ser. Correspondentemente a esse espanto - como atitude primeira do crente e do artista, em relação a uma realidade que o precede — instaura uma “devoção” especifica ou uma «pietas», que exige um acolhimento do real, mais do que o trabalho transformador e dominador desse real.
Partindo desta hermenêutica fundamental da realidade, a arte e a fé assumem necessariamente um papel figurador. Ou seja, a sua realidade exige que se dê corpo a essa interpretação do real, trabalhando com e a partir do próprio real. É isso que faz a arte, na obra, e é isso que faz a fé, na vida de cada crente e da comunidade humana.
Mas essa figuração da interpretação do real como dom gratuito tem a finalidade de transfigurar a própria realidade naquilo que deve ser - precisamente dom gratuito. Nesse sentido e rumo a uma utopia nunca completamente realizada na história humana, a arte - e o cristianismo - são inseparáveis da sua tarefa de transfiguração do real, a partir de uma figuração completamente real.
2.
Na aplicação concreta destes elementos básicos ao caso da arquitectura - como símbolo de uma possível aproximação entre arte e Igreja - poderíamos dizer que a obra arquitectónica é um determinado modo de configuração do espaço em ordem à “habitação” de um lugar — o que vai muito além da simples funcionalidade quotidiana.
O que está em jogo é a ordenação do espaço, em si potencialmente caótico, porque indiferenciado. Nessa ordenação manifesta-se, também, a exterioridade do espaço em relação ao sujeito. E manifesta-se, por outro lado, o papel do sujeito humano na sua ordenação. 0 espaço arquitectónico - sobretudo se for um espaço comunitário – transforma-se numa permuta simbólica entre exterioridade e subjectividade, entre mundo e ser humano.
A exterioridade conduz-nos à primordial revelação do ser, como precedente ao sujeito e como precedente a qualquer lógica funcional ou causal: o ser como milagre, manifesto no espaço ordenado. Mas, na ordenação humana do espaço, joga-se também a relação humana à revelação do milagre do ser. 0 espaço arquitectónico transforma-se, assim, em acolhimento do ser do mundo e em sentimento pessoal de se ser acolhido nesse mundo exterior.
O lugar - o edifício - é assim sempre um espaço simbólico da habitação com sentido, que lhe é dado e é percebido na interpretação do real como dom gratuito. A obra arquitectónica pode assim ser interpretada como mediação do sentido e mesmo do sagrado, se entendermos este como manifestação do sentido primeiro e último. Esse sentido é partilhado, seja pela família que habita a mesma casa, seja pela comunidade que partilha um mesmo sentido, celebrando-o num mesmo edifício.
Compreender o sentido significa estar orientado. O contrário é estar perdido. Assim, pela doação sentido somos salvos da perdição ou desorientação (no espaço e no tempo). Essa salvação pelo sentido implica, contudo, mediações figurativas – umbrais - porque se trata de uma relação ao sagrado fundamental. Os espaços “diferentes” - cuja diferenciação é originada pela obra arquitectónica — tornam-se, então, lugares de sentido fundamental, cujos umbrais são espaços de passagem para o sentido.
3.
As mediações desse sentido vão variando, consoante as épocas culturais, a que correspondem estilos artísticos. Relativamente às manifestações arquitectónicas actuais, poderíamos considerar a transição realizada da sensibilidade barroca para a sensibilidade contemporânea. De uma clara e optimista afirmação do humano (evidentemente que fundamentado em Deus) passou-se à não menos clara humildade do humano (que muitas vezes se confunde com certo desespero), tendo sido atravessado o pântano do orgulho do Homem sem Deus (no qual a não-referência à “Igreja”, e ao conteúdo do cristianismo como lugar de sentido, se tornou uma pretensa forma de sentido).
Essa transição pode também ser lida como passagem da percepção da finitude humana como caminho infinito (infindo, como as colunas barrocas) - segundo o qual a história humana é lida como história das maravilhas de Deus - à experiência sublime de um infinito que nos assalta, permanecendo escondido, sem face, apenas como interpelação silenciosa. Nessa nova sensibilidade, ganham predominância as formas de presença do Deus ausente - ou as formas de ausência do «deus» demasiado presente. As segundas podem idolatrar o finito - a s primeiras podem sucumbir no nada e no sem-sentido (refugiando-se no finito sem Deus). O desafio encontra-se na possibilidade de mediar a presença de Deus - como sentido do humano - sem anular a sua ausência.
4.
O espaço litúrgico está ligado, também, ao sentido do habitar - situa-se, por isso, como “lugar” (ou “não-lugar”) entre Homem e Deus. Por isso, o espaço litúrgico implica uma sábia conjugação da função com a ontologia simbólica do lugar. Nele, a doação de sentido depende do modo como se articula a “presença” de Deus. A “alteridade” de Deus é que fundamenta o sentido do lugar — e não apenas o acto humano da configuração. Mas essa alteridade é precisamente figurada pela configuração humana, originando transfiguração - num processo histórico ou de tradição, que elabora figurações especificas. É necessária uma conjugação entre corpo (Corpo de Cristo, Igreja) e espírito (Espírito de Deus, espírito do Homem), num lugar claramente material — e, por isso, mais do que material.
5.
É na mediação desse espaço próprio — entre outras mediações possíveis — que se dá o acolhimento do Deus inefável, como sentido para o drama humano. Por isso, estão implicados o despojamento e a recepção. A “Igreja” - enquanto edifício e não só - será lida como lugar de sentido para o crente e de possível busca de sentido, para o não crente. Por isso, transfigura-se em alerta profético, a denunciar toda a pretensa auto-fundamentação e auto-salvação (do crente ou do não-crente). Porque ambos são peregrinos orientados para um “Oriente” (mais claro ou mais confuso), como nómadas sem terra - porque o lugar da arte e do cristianismo, feito edifício num templo concreto, é sempre um lugar u-tópico.
João Duque
in Memoria, vol. 13 (2006)
Publicado em 07.02.2008
Topo | Voltar | Enviar | Imprimir
![]()
