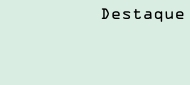

Para compreender a cultura europeia contemporânea
Pela primeira vez, enquanto actores culturais, os europeus se encontram confrontados, não só do interior mas do exterior, com uma temporalidade própria, digamos, finita. Isto não pode ser indiferente para a relação que temos com a História como Cultura ou a Cultura como História. Com a nossa e com a dos outros, agora percebida e vivida como não só diversas nas suas manifestações mas como suficientemente outra para não permitir pensar a cultura como um conceito unívoco e universal onde a pluralidade das culturas a si mesma se compreende e se transcende. Cultura já não quer dizer, explícita ou implicitamente, Europa, como o era sob a forma hegeliana do Espírito. Esta consciência da intrínseca finitude da nossa cultura nada tem a ver com a famosa constatação desabusada de Valéry de que “nós, as civilizações, sabemos que somos mortais”. Esta mortalidade geral, era, ao fim e ao cabo, consoladora para um grande europeu estilo Valéry, O que nos aconteceu, o que nos acontece, é bem mais radical e mais interessante, mortais ou não, nós europeus não nos imaginamos já como culturalmente paradigmáticos. E isto tem as suas consequências quanto ao nosso destino cultural de europeus confrontados com outros destinos tão convencidos como o nosso o foi de que a ele só cabiam a vocação da universalidade e a gerência do sentido da aventura humana.
Os outros não só nos interpelam como sempre o fizeram, como nos julgam e nos contestam sem ter para connosco aquele reflexo de compaixão, de equidade ou de remorso que os europeus inventaram nos Persas, de Ésquilo, e um dia os levaram a redigir os Ensaios ou As Cartas Persas. A cultura europeia que julgava o mundo está em julgamento e não podemos continuar os nossos jogos culturais como se estivéssemos sós no mundo. O mais lúdico dos prazeres humanos converteu-se em jogo de vida e de morte, não porque estejamos à beira de ser submersos por uma barbárie mais inquietante do que aquela que nós mesmos inventámos, mas apenas por uma rasura insensível e invisível da nossa imaginária identidade. Ao menos devemos saber de que é que estamos doentes e se, condenados à morte, saímos de uma História que julgávamos nossa, de olhos abertos ou se já feridos de um sonambulismo incurável.
Desde que tiveram consciência de si, os europeus – Heraclito ou Hesíodo – viveram na convicção de que o seu tempo, o do seu trabalho, o dos seus deuses e dos seus dias, tanto como o dos seus sonhos, era partilhado por toda a humanidade. O encontro com outras culturas, após um instante de perturbação, como quando se confrontaram com o novo mundo, não abalou a sua convicção de serem “os senhores do tempo”. O que confirmava, fossem Péricles ou Alexandre, ou europeus paradigmáticos na ordem da vontade de poderio e ordem incomparáveis, na convicção de serem também os senhores da história. Aliás a história nunca foi para nós outra coisa que a metamorfose lenta mas bem sucedida do nosso tempo particular de gregos, romanos e cristãos, num tempo virtualmente universal. Aqueles que primeiro mediram o nosso planeta deram-lhe, para fins práticos, a sua hora exacta. Todos os aeroportos do mundo nos confirmam nessa crença de um tempo único. O tempo europeu não só continua a medir, aparentemente sem oposição, o ritmo abstracto da mudança cósmica herdada de Babilónia, como confere uma orientação precisa a uma viagem que sem esta escansão do tempo, seria vivida como escoamento caótico ou eterno retorno.
O nosso tempo foi tempo de César em lembrança da primeira Europa imperial, em seguida, tempo de Deus ou mesmo tempo de promessa de salvação e de guerra do tempo no coração do homem. Esta temporalidade de vida deu ao destino europeu a figura felliniana de uma “nave che va”… Foi sempre como um barco que o imaginário europeu se representou o seu destino viajante – barca de Noé, barco de Ulisses, nau dos loucos, nau redentora de Colombo – levando a humanidade inteira. Mas agora que o tempo europeu se tornou ao mesmo tempo universal e finito, agora que já não sabemos se a nau mítica possui ainda o desejo e a força de continuar a sua errância, temos o tempo todo para examinar a ficção gloriosa a que fez da Europa uma espécie de D. João da História, o seu conquistador indigente. (…)
Tudo se passa, nesta aurora de outro milénio, como se nós também tivéssemos renunciado a ir para qualquer lado, talvez porque outros, nossos herdeiros, para aí vão em nosso lugar. Esta visão releva talvez de um olhar demasiadamente contagiado por um presente europeu particularmente hamletiano, assaltado pelos demónios da abdicação e da impotência no momento em que nós julgávamos realizar o grande sonho comunitário. Seja como for, a Europa não vive o seu tempo próprio com aquela paixão inquieta e inquietante, poderosamente aspirada pelo futuro que parecia deportá-la para além de si mesma no momento em que marcava com a sua inquietação febril o ritmo mesmo da história.
Esta espécie de psicodrama da cultura europeia e da melancolia que dela se exala, são por assim dizer o resumo da ilusão europeia por excelência: a de se identificar com uma temporalidade que relevando quer de uma Fé de alcance universal, quer da universalidade mesma da Razão, podia dar conta de tudo, mesmo do mistério ou do enigma da história. Em todas as outras culturas o tempo dos homens é o tempo de Deus ou dos deuses. Só a cultura europeia pretendeu que o tempo de Deus fosse o tempo dos homens. Quando este desafio prometeico perdeu a sua razão de ser, o homem tendo-se tornado para si mesmo um fardo mais peado do que Deus, a nossa sede pareceu extinguir-se.
Também nós, como as culturas extáticas, estamos vivendo o nosso presente como se não fosse para parte alguma. Como personagens de Hermann Hesse aspiramos ao repouso, repouso do sonho durante o qual anjos à moda de Wim Wenders se encarregariam das nossas tarefas sobre-humanas, ou como o de Buda, sonho de pálpebras fechadas, inacessível ao sofrimento que o aguilhão vivo do tempo inflige aos nossos corações de carne e sangue. Mas aquilo que no Oriente resulta de uma funda sabedoria, de uma experiência vivida, no Ocidente, em particular nesta Europa esquecida dos seus próprios sonhos de absoluto, não passa quase sempre de uma mera fascinação lúdica. Bem significativa, contudo, e uma deriva profunda, a da incapacidade de assumir o tempo como essência do ser.
De continente sedutor – com o que há de demoníaco ou perverso em toda a sedução – a Europa transformou-se num continente seduzido. Decerto, o espectáculo da nossa cultura – ou da nossa cultura convertida em espectáculo – não parece muito diferente daquele que nós evocámos sempre com júbilo, o de todas as grandes épocas criadoras do passado europeu: tempo das catedrais, do renascimento, da festa barroca, do romantismo – apesar da sua essência doentia – ou do élan nunca realmente terminado do conhecimento objectivo do mundo, com os seus frutos ao mesmo tempo mágicos e inquietantes.
As mudanças e as metamorfoses da sociedade europeia, em todos os domínios, são vertiginosas. As da cultura também, mas não da mesma vertigem. Poder-se-ia mesmo supor que existe um laço profundo entre uma mutação cognitiva tão rápida que se nos torna indiferente, e o sentimento de tempo suspenso que na ordem do sentido e do símbolo, caracterizaria a nossa relação com a História enquanto história europeia. Mas esta observação é demasiada genérica. Se comporta alguma verdade, devia aplicar-se a outras culturas tão dinâmicas ou mais que as da Europa.
Ora, nós sabemos que essas culturas não ressentem nada que se possa comparar à melancolia histórica. Elas relevam de uma outra temporalidade que nenhuma tragédia empírica – mesmo a de Hirochima – é capaz de afectar. São culturas que por razões opostas não podem “pecar”, como a cultura europeia, cultura de culpa e culpabilidade. Não acudiu à ideia de nenhum japonês, nem de nenhum americano (apesar da herança cristã) imaginar que a sua cultura, apesar dos horrores de que os seus países se tornaram culpados, tivesse que tomar em conta uma mancha indelével como a que Auschwitz deixou na consciência europeia. Mesmo o Vietname não foi peripécia que turvasse a sério a imagem da América como pátria da liberdade.
A nossa má consciência significa que, apesar de tudo, o essencial da nossa cultura, o seu enraizamento ético, cujos referentes são Sócrates e o texto bíblico, foi preservado. Por quanto tempo? É sobre esta linha indivisível e precária que o destino europeu, suspenso da ideia de liberdade de escolha, de responsabilidade e de salvação, parece hesitar, ou tentado também por um destino pragmático, típico de uma cultura de indiferença. E pior do que isso, pela indiferença como cultura.
Temos razões para crer que a nossa estranha hesitação diante do futuro tem a sua fonte no coração mesmo do que foi uma cultura, animada ao mesmo tempo pelo que desejo insaciável do que nós chamamos verdade, e a necessidade, não menos imperiosa, de clarificação da nossa acção, tanto pública como privada. A tentação niilista é inseparável da punção profunda do pensamento europeu. Ela é para esse pensamento aquilo que Mefistófeles é para Fausto. Ele tem de viver com ele pois é ela que o faz viver, com a condição de ser o nosso demónio e não o dos outros. O Diabo faz parte, é um actor essencial do que na Europa chamamos e se chama cultura. O nosso outro não é esse Diabo, mas o caos. E é esse efectivamente aquele que nos ameaça.
A exigência do sentido está muito enraizada na nossa cultura, a temporalidade que lhe é própria demasiado ambivalente para que, mesmo nos momentos em que duvidamos do nosso futuro, nós aceitemos como irremediável esta pulsão lúdica e niilista, fonte de sedução de cor sombria. Se esta situação nos impressiona tanto, é porque nos parece contrária à vocação esquecida, mas sempre presente no inconsciente cultural da Europa, que é representada pela imagem do barco que mesmo bêbado nunca perdeu a esperança de chegar, como dizia Pessoa, a uma “espécie de porto ao sol”.
Há cem anos, a Europa, sob a insígnia “fim de século” teve consciência de um tempo crepuscular que, á primeira vista, apresenta analogias com a temporalidade cinzenta de hoje. Mas o sentido e o conteúdo desta “depressão”, de que o chamado simbolismo foi a flor preciosa e mórbida, eram muito diferentes. A Europa dos fins do século XIX era ainda, efectivamente, a rainha do mundo. A «city» impunha o seu padrão de ouro em toda a parte. Durante um século, os europeus tinham alterado, como os homens jamais o haviam feito, os nossos conhecimentos a respeito da natureza, da vida, da história.
Ao mesmo tempo tinham-se decidido desembaraçar de crenças milenares, substituindo-as por sonhos e mitos que foram os nossos durante um século. Uma grande perturbação espiritual invadiu então as consciências, os espíritos mais delicados ou proféticos, os Gauguin, os Rimbaud, com a tentação de abandonar essa Europa audaciosa e imperiosa com a sua própria herança. Pensou-se que chegara “o fim do mundo”, como um século mais tarde se falaria no “fim da história”. Erradamente, pois ao contrário do que se passa hoje, a Europa era então o sujeito de todas essas revoluções e rupturas históricas e culturais justificadas pela convicção de inventar assim um futuro com as cores europeias. Não por europeias, mas pela ilusão de que eram o verbo do mundo.
Sabemos qual foi o resultado deste inédito questionamento do passado. Ele não contribuiu pouco para lançar a Europa em aventuras de que perdeu o controle e onde correu o risco de ficar sepultada, arrastando o mundo consigo. Antecipando a catástrofe ou prolongando-a, a cultura europeia tornou-se um jogo de massacre e após o massacre, real e simbolicamente, um jogo menos inocente que o das pérolas de vidro de Hermann Hesse. Atravessando o Atlântico, esse jogo dadaísta ou surrealista, seduziu uma América que nunca fez depender o seu papel no mundo do destino ou do brilho da sua cultura. A tudo acrescentou um suplemento de violência, mas também de audácia conquistadora que o seu cinema exportou para o mundo. A sedução acabava de mudar de campo.
Foi assim que a cultura europeia perdeu a chave do seu niilismo ainda prometeico para se tornar numa cultura pouco a pouco fascinada por um novo niilismo, um niilismo “lúdico”, baptizado à pressa de pós-modernismo, última pirueta de uma cultura que já não faz história, mas recicla a história que deixou de fazer. No contexto da cultura americana, ainda impregnada da temporalidade se não feliz pelo menos épica, na sua maneira simplista de se referir ao seu passado e à história, essa expressão de niilismo não afecta em anda o sentido conquistador próprio dos Estados Unidos. É bem diferente o que se passa com um continente que viu nascer Dante, Camões, Cervantes, Shakespeare, Pascal, Kafka ou Beckett, heróis de uma cultura que revisita periodicamente o inferno da condição humana para melhor contemplar o sol e as estrelas. (…)
A nossa cultura europeia – uma entre outras – encontra-se agora confrontada com os mesmos desafios que o conjunto da comunidade humana, mas não os pode vencer por nenhuma tentativa de regressar simbolicamente sobre si mesma como o fez no Renascimento e no Romantismo. Também não se pode contentar com o papel de consumidora ou recuperadora de culturas vindas de algures, unicamente para ter a ilusão de que ainda dispõe da antiga hegemonia sobre o futuro. Tanto mais que ela guarda intacta a sua capacidade de invenção e de renovação. Nem se vê quem a tenha mais, América inclusa.
Como já não estamos como actores da História, enquanto políticos, no centro do mundo, imaginamos que como cultura fomos retirados da mesma História. Mas somos nós que nos retiramos, fantasmando em excesso a sedução alheia e enegrecendo inconsideravelmente o nosso próprio rosto. Não nos espantemos que seja agora de fora que a imagem finita de nós mesmos nos seja apresentada. Olhemos para ela com a mesma audácia com que durante séculos em família, dilaceramos o rosto universal que nos supúnhamos. Assim entraremos de pé no tempo dos outros.
Eduardo Lourenço
Doutoramento Honoris Causa na Universidade de Bolonha
in Jornal de Letras, 16.01.2008
Publicado em 23.01.2008
Topo | Voltar | Enviar | Imprimir
![]()

Ao menos devemos
saber de que é que
estamos doentes e se, condenados à morte,
saímos de uma História
que julgávamos nossa, de olhos abertos ou se
já feridos de um sonambulismo incurável
Foi sempre comoum barco que o imaginário europeu
se representou o seu
destino viajante. Mas agora que o tempo europeu se tornou ao mesmo tempo universal e finito, agora
que já não sabemos
se a nau mítica possui
ainda o desejo e a força de continuar a sua errância
A Europa não vive o seu tempo próprio com aquela paixão inquieta e
inquietante, poderosamente aspirada pelo futuro que parecia deportá-la para
além de si mesma no momento em que marcava com a sua inquietação
febril o ritmo
mesmo da história
Em todas as outras
culturas o tempo dos
homens é o tempo
de Deus ou dos deuses.
Só a cultura europeia pretendeu que o tempo
de Deus fosse o
tempo dos homens
Também nós, como as culturas extáticas, estamos vivendo o nosso presente como se não fosse
para parte alguma
A nossa má consciência significa que, apesar
de tudo, o essencial da
nossa cultura, o seu enraizamento ético, cujos referentes são Sócrates e o texto bíblico, foi preservado
É sobre esta linha
indivisível e precária que o destino europeu, suspenso da ideia de liberdade de escolha, de respon-
sabilidade e de salvação, parece hesitar, ou tentado também por um destino pragmático, típico de uma cultura de indiferença.
E pior do que isso, pela indiferença como cultura
A tentação niilista é inseparável da punção profunda do
pensamento europeu
O Diabo faz parte,
é um actor essencial
do que na Europa
chamamos e se chama cultura. O nosso outro
não é esse Diabo,
mas o caos. E é esse
efectivamente aquele
que nos ameaça
A exigência do sentido está muito enraizada na nossa cultura, a temporalidade
que lhe é própria
demasiado ambivalente
para que, mesmo nos momentos em que
duvidamos do nosso futuro, nós aceitemos como irremediável esta pulsão lúdica e niilista, fonte de sedução de cor sombria
Ao mesmo tempo
tinham-se decidido desembaraçar de crenças milenares, substituindo-as
por sonhos e mitos
que foram os nossos
durante um século
Sabemos qual foi o
resultado deste inédito questionamento do
passado. Ele não
contribuiu
pouco para
lançar a Europa em
aventuras de que perdeu o controle e onde correu
o risco de ficar sepultada, arrastando o
mundo
consigo
É bem diferente o que se passa com um continente
que viu nascer Dante, Camões, Cervantes, Shakespeare, Pascal, Kafka ou Beckett, heróis de uma cultura que revisita periodicamente o inferno
da condição humana para melhor contemplar
o sol e as estrelas