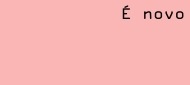Concílio Vaticano II ontem e hoje: leitura de Marcelo Rebelo de Sousa
Recordar o Concílio Vaticano II – ou, mais rigorosamente, II Vaticano – é recordar, antes de tudo o mais, um mundo a entrar na década alucinante de 60, com Kennedy, Luther King, a tensão em Cuba, o afastamento sino-soviético, as descolonizações, a emergência do Terceiro Mundo, o crescendo da televisão e do turismo, as sagas da igualdade racial e da libertação da mulher, os debates europeus sobre os marxismos e o cristianismo, o início da autonomização da juventude como categoria social, a crise na família ampla e na escola, os utopismos voluntaristas e cada vez mais radicais de gerações que começaram por ser sobretudo de filhos de família ou privilegiados contestando o statu quo para se converterem em processo de democratização escolar e social.
É, ainda, recordar Portugal em ditadura quase terminal, com a abertura da primeira de três frentes militares em África, o encetar de uma emigração de um décimo da população para a Europa e migrações internas para o litoral, em particular para a futura área metropolitana de Lisboa, desertificando o interior profundo, desestruturando comunidades e famílias, desenraizando ou, pelo menos, criando ruturas de vida em dezenas de milhares de recem-chegados ou quase chegados ao que se considerava a idade adulta.
É, ainda, recordar, na minha experiência pessoal, o somatório de estudante com 13 anos, a iniciar o 2.º ciclo dos liceus, no Pedro Nunes, em Lisboa, dirigente da JEC, num tempo que seria o derradeiro da Ação Católica em meio escolar, já que, na viragem para os anos 70, dela já não restaria grande traço, pelo menos na universidade. No entanto, em 1962, parecia pletórica de energia, haveria de organizar o inesquecível Grande Encontro da Juventude, e estávamos longe de imaginar a rapidez dos acontecimentos subsequentes.
Quando muito, parecia-nos evidente que a longa, mesmo se não incondicional, ligação entre a Igreja Católica e o Salazarismo tinha os dias contados, como tinham o ritmo, o estilo e até diversas prioridades pastorais na diocese que era a nossa.
Recordar o Concílio, neste contexto, é, aos 13 anos, evocar a emoção de um choque vital para os católicos, chamados a balanços, a reflexões, a revisões de vida, a novos olhares sobre um mundo largamente novo, com novos desafios.
Primeiro e mais imediato repto – o da mudança na liturgia. Aluno que seria de Latim, até conseguia acompanhar bem as celebrações em latim. Mas, o vernáculo, a simplificação formal, a nova postura perante as assembleias de fiéis traziam uma preocupação não apenas pedagógica como de redefinição do que era a Igreja e do papel que nela deveriam assumir os leigos. Sacrosanctum concilium.
Segundo desafio – o da visão da Igreja como coisa também nossa, dos leigos, como Povo de Deus caminhando por esta vida terrena em direção à eternidade, à plenitude dos tempos. Era, para muitos, uma “revolução” mais profunda do que a mudança nos ritos. Para mim, foi uma motivação brutal no empenhamento na Ação Católica, nas ações vicentinas, nos contactos com a comunidade envolvente. Lumen gentium. E, também, sobre o papel dos leigos, Apostolicam actuositatem.
Terceiro apelo – o da abertura ao mundo – Gaudium et spes –, não para se dissolver nesse mundo, mas para o entender e melhor agir nele e com ele. Em todas as facetas, da social à económica, à política, à cultural. Isto, que hoje se afigura uma realidade menor ou óbvia – e que não o é, como o testemunha a necessidade de Nova Evangelização em sociedades outrora sensíveis à mensagem cristã –, era uma novidade maior num Portugal fechado, controlado, atabafado, a fingir que não percebia as ruturas em esboço ou já em curso. Sempre com a visão missionária – Ad gentes.
Quarta vertente relevante – a do diálogo com a Ciência, com a Razão, essencial perante formulações científicas e tecnológicas muito diversas e muito desafiantes para a Fé e para a Moral cristãs. Para a minha “deformação” racionalizante, esta vertente era particularmente importante.
Quinta dimensão – a do diálogo ecuménico, assinalado por inúmeros gestos que rompiam com a cartilha da minha meninice, indo da condenação do povo judeu até à oração pelos irmãos desviacionistas dentro do Cristianismo, como que considerados umas almas perdidas, pelas quais se pedia em jeito de sobranceira comiseração. Unitatis redintegratio, Orientalium
ecclesiarum e Nostra aetate.
Sexta e não menos significativa expressão – a mensagem de Alegria e de Esperança, que recobria este repensar e reviver da nossa Fé, num turbilhão de anos, que duraria o Concílio e coincidiria com o agravamento das tensões e das exigências de construção de um Portugal novo e de uma nova pastoral da nossa Igreja perante esse Portugal. Permanentemente fiéis à Divina Revelação – Dei Verbum –, mas atentos a novas pistas educativas e comunicacionais – Gravissium educationis e Inter mirifica. No estrito respeito da liberdade religiosa de cada qual – Dignitatis humanae.
Foram muitas sensações, muitas reflexões, muitas orações, muitas esperanças, muitas querelas com mais velhos ou entre mais novos – tudo vivido entre o meu 3.º ano liceal e a entrada na universidade. E que marcaram, para sempre, a minha vida de cristão.
Bastantes dos meus companheiros de percurso espiritual nunca se ajustaram à mensagem conciliar, aceitaram-na porque tinha de ser, e, na primeira esquina da História, regressaram
a um misto de pré-conciliar suavemente adaptado.
Outros, a maioria, consideraram curta a mudança na Igreja portuguesa, ou lenta, ou, então, que fez mudanças de vida ou de atuação que a levou a afastar-se da vivência comunitária, ficando, embora, uma parte importante, no que eu chamo cristãos sem rótulo, com os mesmos princípios e um traço conciliar evidente, mas sem aceitação de uma partilha assumida de Fé em Igreja. Terceiros, vivem a sua Fé a sós, num estilo que se foi ampliando na sociedade portuguesa.
Mas alguns – e, felizmente, não poucos – tentamos não confundir cabeçadas na vida com perda de Fé, nem ficar com saudosismos de uma Igreja pré-conciliar, nem ser sensíveis à ideia de grupos de eleitos que curam da sua salvação já que o mundo parece apostado na alegada volúpia da perdição, nem aderir às teses do fim da História – das marxistas às neoliberais –, nem nos satisfazemos com o neoiluminismo relativista.
Continuamos na senda do Concílio, sem fixismos retro, nem ilusões de que apenas uma leitura é possível da e na nossa Fé. Atentos aos sinais dos tempos, ecuménicos, sociais, participativos. Em conjunto com cristãos com outras maneiras de encarar a Fé, que não há dois caminhos iguais nesse particular. Falhando mais do que acertando, que o cristão é tão imperfeito como o mais imperfeito dos humanos. Mas recomeçando cada dia.
Com gáudio e esperança, sobretudo com Caridade, essa constante primeira da Fé Cristã, que o Concílio não esqueceu nem apagou, antes enriqueceu com a preocupação de melhor saber em que mundo se vive sem se viver só dele e para ele e como falar para ele e atuar com ele. Numa tensão criativa que começa e acaba sob a permanente crença da inspiração divina na nossa descoberta e construção da eternidade, da eternidade que há de vir e da eternidade que é possível que venha já no decorrer da presente caminhada terrena.
Marcelo Rebelo de Sousa
In Vaticano II, 50 anos, 50 olhares, ed. Paulus
03.07.12
 Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa5.ª Jornada da Pastoral da Cultura
Fátima, junho 2009

Leitura: Vaticano II, 50 anos, 50 olhares
Portugal: o que mudou na sociedade e na Igreja 50 anos após o início do Concílio Vaticano II
D. Manuel Clemente: O "meu" Concílio, 50 anos depois
Celebrar e viver o Concílio Vaticano II | IMAGENS |
Textos do Vaticano II: A Família
Textos do Vaticano II: Diálogo da Igreja com as artes e ciências
Textos do Vaticano II: Respeito pela dignidade humana
Textos do Vaticano II: Direito ao trabalho, direitos dos trabalhadores
Textos do Vaticano II: O seguimento de Cristo na vocação religiosa
Textos do Vaticano II: Cultura, direito e dever
Textos do Vaticano II: Os cristãos e os pobres
Vaticano II: presença de Portugal no concílio que marcou o fim de uma época e a aurora de um novo tempo
Textos do Vaticano II: EcumenismoTextos do Vaticano II: Economia
Textos do Vaticano II: Migrantes
História do Vaticano II: origem e documentos
Textos do Vaticano II: Igreja e política
Textos do Vaticano II: A condição do ser humano no mundo atual
Textos do Vaticano II: Cultura
Concílio Vaticano II: seleção de textos, perspetivas e iniciativas