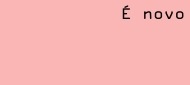Fé e cultura
Crer na fronteira. Habitar novas fronteiras
A generosidade da atenção, a sabedoria da leitura, a arte da descrição das profundas mudanças históricas a que assistimos é a virtude que hoje precisaríamos de desenvolver mais. Segundo a sapiente sugestão de E. Salmann, «como os discípulos de Emaús, devemos ‘convidar’ para casa o que nos é estranho, o que não compreendemos [...]. A liberdade é poder responder à instância que me interpela e se me impõe [...]. Descrever! Descrever para poder decidir [...]. Descrever para chegar a redescobrir o encanto deste nosso mundo, para muitos desencantado, redescobrindo por entre as fendas abertas os sinais da passagem de um Deus que, entretanto e entre nós, Ocidente, se tornou anónimo, mudo, indiferente. Descrever para chegar a sentir o mundo como nosso mundo, tal como é, e chegar a acolher com gratidão e como lugar salvífico os seus movimentos e aspirações, as suas graças e desgraças, os seus cumes e abismos. E ver refletido nele o percurso da nossa própria existência, desta nossa biografia. Por fim, e porque a história real fala do Senhor, descrever a configuração atual do nosso mundo, para perceber, por ele, o que Deus tem para nos dizer e para chegar a reconfigurar nele o corpo eclesial que somos, re-dando visibilidade à vida do Espírito que nos habita e in-forma.
Para tal, aprendamos com o estilo de Jesus, o seu modo de proceder. Ou, antes, deixemo-nos tocar e retocar por ele.
O caminho de Emaús como quadro inspirador
Jesus ressuscitado faz-se companheiro de caminho, simplesmente pela insinuação da sua presença. Com uma atenção extraordinária aos sinais corpóreos da desilusão interior, sabe colocar a pergunta certa, aquela que dá a palavra aos dois discípulos desiludidos e tristes e se faz verdadeira disposição a escutar. Ainda que seja para ouvir o que já sabe, dispõe-se a acolher o seu ponto de vista sobre os acontecimentos. A pergunta de Jesus dá a deixa, faz-se convite a revisitar e a repercorrer as estradas e os lugares do que os havia encantado e agora desilude. Entrando pela porta do sonho desfeito, Jesus rompe os lugares comuns da sua inteligência do divino para fazer entrever um outro rosto de Deus. No limite do que se lhes afigurava impossível, faz brotar sementes de possibilidade. Depois, narrados e iluminados os lugares revisitados, faz-se convidar. E à mesa, num gesto eucarístico, desperta os sentidos, toca a alma, cura o corpo, regenera toda a experiência. O anonimato dá lugar à comunhão. O seguimento e a missão vencem o abandono e o ressentimento. Finalmente, quando reconhecido, Jesus desaparece da sua vista. Aquele que, como corpo, se dá a comer é o mesmo que diz «não me tocar». A presença recusa fazer-se morada que aprisione, coisa que se possua. Agora, é nos lugares concretos da humanidade - em todos - que se viverá o contato vivificante com o Mestre.
Quanto poderemos aprender com esta forma de entrar na vida dos nossos contemporâneos e de comungar os movimentos das suas existências para, desse modo, criar um espaço de possibilidade para um encontro biográfico com o Senhor Jesus: tocar sem aprisionar; dar-se sabendo retirar-se; dizer sem ofender o mistério e cobrir o silêncio que envolve nós e eles; fazer-se alimento sem criar dependências; brilhar como luz que se extingue. E quanto poderemos recolher deste modo de proceder de Jesus ressuscitado que abre os olhos dos seus discípulos ao reconhecimento da sua presença exatamente no momento em deixam de o ver. A ausência acena a uma outra forma de presença: é preciso que o Senhor vá para que desça o seu Espírito. Não é esse o tipo de relação que vivemos em cada eucaristia, comungando daquele pão que não parece pão que é corpo que não se vê?
É, pois, este encontro a etapas sucessivas e enquanto se caminha que, pela palavra e pelo gesto, vai do isolamento à eucaristia, do anonimato ao reconhecimento, da perturbação paralisante à consolação operativa, que proponho como ambiente inspirador para esta minha reflexão, quase como um prelúdio musical ou uma sugestão pictórica.
A generosidade da atenção, a sabedoria da leitura, a arte da descrição
Começar por olhar, escutar, tocar, sentir generosa e atentamente - um ato de leitura - e descrever pacientemente. Descrever a configuração cultural gerada pelas mudanças deste nosso tempo e também a forma radical como afetam - como estão a afetar - a experiência da fé cristã, a sua prática comunitária e a sua transmissão. Descrever, antes de mais, para tentar compreender os fenómenos e poder entre-ver, pressentir, por entre as fendas das feridas abertas, alternativas de pensamento e de vida. E talvez, porque não, de reencontro inédito com o próprio mistério de Deus. Depois, descrever para reavivar o exercício de discernimento da graça que pode ser - que deve ser - para o cristianismo este tempo de desconforto no qual a fé perde a segurança de um contexto favorável.
Não é, por isso, uma generosidade ingénua, que se perde na admiração da paisagem, perdendo-se nela. Esse olhar empático sobre o nosso mundo é, antes de mais, a realização do espírito do Vaticano II que reconhece a história, tal como é, e a vida concreta de cada homem e de cada mulher, como lugar teológico privilegiado. Isto é, lugar humano concreto onde Deus manifesta a sua vontade para nós. Por isso, ao descrever estamos já a perscrutar a ação Divina neste nosso momento histórico e a perguntarmo-nos como, nele, Deus está a revelar-nos a sua vontade.
Se, por um lado, a fé na Palavra que salva não pode renunciar a contestar profeticamente o espírito do mundo, com as suas fixações ideológicas e idolátricas, as suas veleidades inconsistentes de auto-glorificação, as suas forças negativas e destrutivas, as suas desordens e injustiças apregoadas como ordem e desenvolvimento, os seus males oferecidos sob aparência de bem e os horrores das suas injustiças; por outro, hoje e mais do que nunca, com «um forte sentido do sagrado, inseparavelmente unido a um envolvimento ativo no mundo», cabe-lhe, não menos, a sabedoria dos gestos e das palavras que saibam abençoar e elevar os ritmos e os lugares elementares da existência humana, quotidiana e biográfica. Ainda que na sua corrupção, esses lugares permanecem o corpo ferido e glorioso do Verbo incarnado: a única carne onde a Palavra haverá de ressoar e o Gesto haverá de tocar. Também para nós.
Gera esta sabedoria, antes de tudo, a atitude generosa da atenção, tanto viva quanto humilde - o teólogo B. Lonergan exprime-a no imperativo «sê atento» - que se faz empatia e simpatia, hospitalidade sincera, escuta genuína. Dessa sabedoria ouvimos ainda o eco nas palavras bem-ditas, quase comoventes, do Concílio Vaticano II, quando declarou serem suas as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias de cada homem e mulher, sobretudo dos mais pobres, por não ser estranha ao coração dos cristãos nenhuma realidade genuinamente humana (cf. Gaudium et spes 1). O simples desejo de as descrever e de as compreender é já um modo de as sentir internamente e de as partilhar efetiva e responsavelmente, sabendo que por elas o Senhor nos manifestará hoje a sua vontade.
Como «as três pessoas divinas» que «observam toda a planície ou redondeza de todo o mundo, cheia de homens» - assim nos é dito no n.º 102 dos Exercícios Espirituais de S. Inácio -, para ter consciência da mudança radical a que assistimos, essa memória descritiva apresenta-se, assim, como a condição sine qua non para um estilo cristão que hoje nos conviria cultivar mais. Em grande parte, será por ele que o Cristianismo poderá oferecer-se como palavra eloquente e gesto significativo, capaz de iluminar as complexas paisagens da existência humana, fazendo pre-sentir e entre-ver possibilidades inéditas, surpreendentemente prometedoras. Como dizia, não se trata de uma abertura politicamente correta, motivada pela tolerância democrática à la mode a tudo o que é diferente. Ainda menos, de uma estratégia de marketing religioso, originada pela infelicidade de ter perdido a palavra e o lugar, pelo desaparecimento de um passado que nos colocou no centro de tudo e de todos, por vezes falsamente idealizado como paraíso imaculado. Trata-se, sim e em primeiro lugar, da convicção, profundamente cristã, de que não há tempos privilegiados para viver o Evangelho, porque todos os tempos são tempos favoráveis. Sabemos como, para a consciência crente, a cadência da história não é marcada primeiramente pelo fluir implacável do tempo, mas pelo toque do Espírito do Ressuscitado que, de cada porção de espaço e fragmento de tempo, faz um acontecimento de graça. Assim, para cada tempo e lugar, inspira à fé que salva em Jesus de Nazaré, formas particulares. A estas me referirei com a categoria corpo. Como o Verbo se incorpora na nossa história, não querendo ser sem a alteridade e a diferença da nossa humanidade ferida e precisada de redenção, assim também não há fé sem corpo. E não há corpo que não habite narrativamente os espaços e que não tenha a marca do tempo. Por isso, será apenas sob as condições da cultura atual que se poderá construir e adquirir uma nova visão do cristianismo, numa constante e contínua correspondência e resistência fecunda entre ambos.
A consciência da mudança que a modernidade ocidental trouxe consigo, deslocando o cristianismo do centro para a periferia dos 'dispensáveis' e dos 'irrelevantes', além de favorecer a sabedoria de atenção e a arte da descrição, apresenta-se também como o ambiente ideal para repensar teologicamente o lugar da fronteira, fazendo-nos talvez concluir que, afinal e desde sempre, o mais originário da fé no Verbo feito homem é de habitar, não a estabilidade e a proteção do centro bem definido e estável, mas a fragilidade e a instabilidade das múltiplas periferias humanas. E, por ser assim, a prática crente não deixará de ser moldada por lima existência individual e comunitária de discernimento, vivida em fronteira, como quem assume a errância do êxodo como o seu próprio domicílio. Com outras palavras e usando uma expressão tipicamente inaciana, a fé na fronteira é gerada e regenera um modo de proceder, que não é primeiramente um código de conduta, nem um compêndio doutrinal ou, ainda menos, um baú de memórias. É, antes, a metodologia de um corpo, ritmado pelo exercício do discernimento espiritual - ele que é habitado pelo Espírito do Ressuscitado -, sob as condições particulares dos diferentes tempos e lugares, em vista de uma «criatividade em colaboração». Uma criatividade comunitária, poderíamos dizer.
Assim se forjará um estilo cristão. A categoria pode ser-nos teologicamente pouco familiar, senão mesmo motivo de alguma desconfiança, pelo carácter epidérmico e circunstancial que lhe poderá estar associado, sobretudo se for considerada como simples coreografia, ornamental e acidental, do que se consideraria realmente substancial e essencial. Isto é, o conteúdo. Mas a categoria começa a fazer o seu percurso em teologia.
Segundo o teólogo beneditino E. Salmann, o estilo é um modo particular de olhar, de habitar, de pensar o mundo, a fé, as formas cristãs. É o toque distintivo de uma presença que se representa num corpo. Emerge da relação íntima entre afinidade originária, que dá um fundo precedente de pertença comum, e liberdade de projetar, que cria o toque da originalidade e desenha as múltiplas possibilidades. Recorrendo à metáfora eloquente do nascimento, trata-se da relação íntima entre ser dado à luz (passividade originária que precede) e o poder e dever assumir a própria existência (liberdade e responsabilidade de se empenhar na configuração única da própria existência). Uma e outra co-implícam-se, sem se fundirem nem se excluírem. O estilo desenha, portanto, um corpo, tão forte quanto frágil, que ocupa o espaço deixando, no entanto, espaços livres para uma possível re-configuração. É o modo de dar figura ao mundo interior, ao apelo do mundo exterior, dos outros, do Absoluto, mas sem que chegue a cristalizar-se numa forma ideológica e, por isso, idolátrica. Como síntese e sintonia entre exterioridade e interioridade, entre corpo e alma, entre ser e comportamento, o estilo é um modo particular de in-habitar infinitamente a própria finitude. Por isso é graça (dom gratuitamente recebido). E, também por isso, é arte (obra a-fazer, com graça). Daí que não seja estranho que, em cada momento da sua história, o cristianismo sempre tenha dado forma - corpo - à experiência espiritual, entre mística e rito, graça e trabalho, tradição e esforço individual, força e fraqueza. A longa e incomparavelmente fecunda história cristã das formas de vida e de piedade, de arte e de organização são disso a prova. E tanto são prova a Companhia de Jesus como as catedrais góticas; a vida de Francisco de Assis como as estátuas de Miguel Ângelo; a regra de S. Bento e os Exercícios Espirituais como a Divina Comédia; o canto gregoriano e a arte barroca como os painéis de Rupnik.
É esta a entoação que escolho, portanto, para desenvolver o tema condensado no título. O facto é que, deixando de habitar o centro de um mundo que, de resto e na sua pluralidade e atomização, perdeu um centro único, clara e unanimemente identificado, e constatando a nossa marginalização na configuração dos tempos e dos espaços sociais, culturais, científicos ou outros, não poderemos viver senão na fronteira, no confim, entre tempos, entre mundos, entre experiências, procurando mediar, criando pequenos pontos de contacto entres margens separadas, lugares de abertura e de compreensão, de estima recíproca, de entendimentos possíveis. Um ofício, não tanto de pontifex maximus mas mais de pontifex minimus que, na familiaridade com o sagrado e o humano, se vive como contemplação, essa mística do quotidiano que, e ainda segundo o pensamento de E. Salmann, sem ser exótica ou esotérica, sabe colher na nossa pequena existência quotidiana os sinais de um Deus, hoje, mais silencioso e incógnito. Talvez, apenas, um «pequeno gesto de atenção, de oração, de reflexão, de tomada de distância, de olhar mais longe, de saltitar um pouco entre céu e terra, entre pensar em grande e o respeito pelo pequeno, de ver como o céu se refrata e se espelha até no charco da nossa existência», poderá ser suficiente para desenhar oportunidades de contacto entre mundos progressivamente afastados. Deste modo se poderá configurar esse tal estilo mínimo, fenomenológico, levemente profético, numa sociedade plural e neo-liberal, largamente indiferente ao religioso, ou religiosa de outro modo, no interior da qual a fé e a Igreja vivem hoje a dificuldade de provar a sua pertinência e plausibilidade. Ainda que menos pretensioso, mas qualificado pela familiaridade com o divino e o humano - familiaridade que não deverá ser simplesmente individual, mas que precisará de ganhar forma como corpo eclesial, redesenhando o próprio corpo que é a Igreja -, este estilo poderá não ser menos gerador de vitalidade humana e de abertura aos sinais da passagem do divino.
Tenho consciência de que o acento colocado na generosidade fenomenológica da descrição não é sem risco. Dar mais o lugar e a palavra ao outro na sua diferença cultural, social, científica, para que diga de si, do que contestar, à partida, a sua possível insuficiência e corrupção não é opção inocente nem inócua. A hospitalidade não é ingenuidade. Mais não fosse, porque o hóspede recebido em casa pode ser, tanto o mensageiro de Deus como o estranho que se revela hostil. A hospitalidade é exposição arriscada. E a ex-posição, bem o sabemos, é, duplamente, pôr-se a nu, exprimir, mostrar, revelar, e pôr-se a jeito, fazer-se alvo de incompreensão, de desinteresse, de crítica e, mesmo, de ataque violento. Porém, entendo que nenhuma palavra e nenhum gesto nascido da fé que salva em Jesus de Nazaré, o Verbo incarnado, mesmo os mais proféticos de denúncia de desordens e formas de corrupção, terá força fora deste desejo de salvar, assumindo, a proposição e a vida do próximo. A contemplação dos mistérios da vida de Jesus de Nazaré bem nos revela este seu modo de proceder. Salvar não poderá ser menos que gesto de bênção pelo acolhimento: bem-receber para bem-dizer.
Mas com esta opção insinua-se uma outra exigência. Como dizia antes, se o cristianismo, pela sua própria missão, não pode deixar de contestar as muitas desordens do mundo, propondo uma vida debaixo da bandeira de Cristo, não está isento de ser, também ele, contestado e dilatado pelo próprio mundo. Em primeiro lugar, porque está sempre aquém do Evangelho que serve. É por isso que a exposição ao mundo põe também a descoberto as nossas próprias fixações e idolatrias. Como alerta G. Lafont, «somente se não cobrirmos o rosto diante do facto de que a maré que hoje em dia arrasta a civilização ocidental leva também consigo a Igreja, se será capaz de imaginar outras formas que, por sua vez, possam permitir à Igreja sobreviver e contribuir para o necessário nascimento de um outro mundo. Mas, pelo contrário, se cedemos à reconfortante consideração de que a crise atual não diz respeito à Igreja mas apenas ao mundo, privamo-nos dos meios até para o estrito necessário [que poderemos oferecer] em proveito do mundo e da Igreja». Em segundo lugar, a abertura generosa ao mundo e à história não é para nós uma opção negligenciável. O nosso modo de proceder haverá sempre que gerir a co-implicação íntima entre o acontecimento fundador de Jesus Cristo, no qual somos salvos, e o discernimento do presente no Espírito Santo, como quem gere um espaço aberto, no qual o mesmo Espírito continua a gerar o corpo do Verbo. E sem que nenhuma forma histórica possa pretender ser identificada à plenitude da verdade do Evangelho. Esta não viverá sem uma forma histórica. Mas nenhuma forma histórica a esgotará. Assim, a alteridade histórica é olhada e acolhida, não como campo hostil ou indiferente à experiência e à prática crente, mas como aquele diferente, aquele outro sem o qual nós não podemos ser, já que o que somos é fruto do que com ele podemos ser. Noutras palavras, é a sua diferença que hoje e sempre faz reencontrar a nossa identidade. Porque esta não poderá ser sem essa diferença. A própria incarnação é a marca indelével da vontade de Deus em assumir o outro, o outro mais afastado - a humanidade pecadora -, e que só no corpo da história e nas linhas das biografias concretas diz de Si e da nossa salvação. O Verbo, realmente, fez-se carne. Porque o Puro não tem medo de sujar as mãos no impuro, nem o Santo de se expor à miséria humana. E onde está o Mestre lá deverá estar o seu servo; onde está a cabeça lá deverá estar também o corpo.
Com este quadro de referência, gostaria agora de explorar os pontos enunciados, fazendo-os balançar entre o carácter sugestivo do título «crer na fronteira; habitar novas fronteiras» e a exigência que nele se desenha, sobretudo ao nível do aggiornamento da prática eclesial em função da particularidade dos tempos que vivemos.
«Dos líquidos». A necessária consciência dos nossos tempos de ‘trânsito’
Para o sociólogo de origem polaca, Z. Bauman, a época que vivemos exprime-se em termos de liquefação das formas sólidas. Se o que chama modernidade sólida - por facilidade, tenhamos presente a segunda metade do segundo milénio na nossa era - se formou e consolidou na atitude de repúdio e dedestronização de crenças, de fidelidades ao passado e ao transcendente, de sacralidade das mediações históricas, não o fez para se livrar de corpos sólidos, mas antes para preparar o terreno a outros melhores. A ordem antiga que se pretendia alterar, com a reivindicação da autonomia da racionalidade científica, da autonomia social e das liberdades individuais, visava estabelecer uma outra ordem mais perfeita e definitiva que aquela religiosamente estabelecida.
Hoje, pelo contrário, a grande novidade da modernidade, já não sólida, mas líquida, não está no projeto de substituir a velha ordem por uma melhor mas, antes, na rejeição, sem finalidade particular, de tudo o que é sólido, durável, estável. Tal como é próprio dos corpos líquidos não fixar o espaço nem ligar o tempo - diferentemente dos sólidos que tendem a conservar a própria forma e resistem a mudá-la - e tal como lhes é próprio fluir com facilidade e variabilidade, assim se encontra a nossa época, a assumir a forma da fluidez permanente, da intrínseca transitoriedade, flexibilidade e fragilidade, vencendo a rigidez das formas e recusando a perenidade dos vínculos, ao mesmo tempo que se nega ao confronto com um qualquer tipo de objetividade ou autoridade heterónomas. Fluir condensa, portanto, uma forma de imperativo categórico: sê fluido. Fluir, necessariamente. Sem se ligar. Sem parar, para ser novamente e sempre num outro lugar. E o motivo parece não ser outro que o de não ser posto à margem do movimento incessante. Por isso, não se procura promover o sentido, nem abrir cenários de redenção, ainda menos de revelar a verdade. Trata-se, antes, de uma espécie de jogo da mobilidade que desvaloriza o que fora duramente conquistado, desconfiando e considerando politicamente incorreto tudo o que possa insinuar-se sob a marca do definitivo. É o grande jogo do mundo globalizado, saturado de imagens, sons, objetos, viagens, experiências, jogando-se na lógica inexorável e ininterrupta da lei da oferta e da procura, mas também da produção de muitas formas de exclusão, de marginalidade, de lixo e, abrindo novo ciclo de vida, de reciclagem. E isto, tanto ao nível macro da economia global, dos sistemas sociais e políticos, sempre mais condicionados e dependentes daquela, como ao nível micro da experiência individual, das relações pessoais e dos laços, da configuração quotidiana da existência.
Neste cenário, o manifesto programático que se condensa no título «Crer na fronteira. Habitar novas fronteiras», apresenta-se, como dizia, tanto sugestivo quanto exigente. Sugestivo, porque a metáfora da fronteira - poderíamos substituí-la por limiar ou passagem ou pórtico - corresponde bem ao espírito de trânsito, ligeiro e dramático, que caracteriza o nosso tempo. Trânsito do centro uno às múltiplas aberturas; do definitivo e completo ao permanentemente aberto; do essencial a representar ao possível, ainda por inventar; da História às histórias; do categorial ao processual; do sentido dado ao sentido a-fazer. Esta é, segundo Bauman, a nossa nova condição humana. Não poderemos fugir-lhe sem risco de alienação da realidade. Identidade líquida; vida líquida, amor líquido, medo líquido, são temas e títulos de obras deste sociólogo, correspondendo a outros tantos 'lugares' do humano em estado de liquidificação e de passagem contínua. Há também quem recorra à imagem da vaporização e do estado gasoso para descrever o espírito dos tempos que correm. Mas, líquido ou gasoso que se tenham tornado o mundo e a vida humana, o certo é que deixámos de nos rever na metáfora dos corpos sólidos. Um único centro, fixo, acabado, estático, garante de todo o sentido entre origem e destino, deixou de fazer parte da imagem social, e talvez também individual, que temos de nós mesmos.
Não só pela apologia teórica, mas ainda mais pela prática efetiva generalizada, a existência humana fragmenta-se na fluidez do instante e volatiliza-se na inefabilidade do momento, sem um fio condutor que os ligue. Simplesmente, vivemos assim. O tempo de garantia do fundamento uno, verdadeiro, bom, que configura o sentido no arco do tempo, entre início que lança e fim que atrai, parece ter chegado ao seu ocaso. O nosso lugar tornou-se hoje o não ter lugar. Habitamos, pois, limiares. Entusiasticamente? Perplexos e inseguros? Talvez, e paradoxalmente, com ambos os sentimentos. Primeiro, porque, de facto, é o ar que, espontaneamente, todos respiramos, mesmo quando o contestamos. Depois, também, porque temos dúvidas que seja realmente só e sempre ar puro. A euforia experimentalista não consegue esconder tantas formas de ansiedade e desilusão, nem o tom quente das cores choc, nem a vibração violenta dos sons ou a agressividade das imagens esconde o drama das existências e a deriva dos grupos.
Neste ar do tempo, também a «nostalgia do uno», de que o cristianismo e a cultura ocidental viveu, praticamente durante dois milénios, considerando frágil tudo o que tinha o selo da multiplicidade e da diferença, entrou em crise. Uma crise difícil de gerir, mas nem por isso menos benéfica se levar a reconhecer o que nessa mesma nostalgia havia tanto daquilo que o jesuíta francês M. De Certeau chamou «ideologia da estabilidade»; a fixação imobilista de uma verdade incapaz de contar uma história e de fazer-se história de vida. Como o fluir contínuo pode tornar-se dispersão e veleidade, a estabilidade pode converter-se em corpo cristalizado, insensível a todo o movimento e imprevisibilidade, elementos que, sabemos, são atributos do Espírito. Como o fluir compulsivo pode dificultar o reconhecimento e a adesão à verdade da vida, a verdade reduzida a ideia cristalizada perde facilmente a vitalidade do dom que faz viver.
Do fim da cristandade. A marginalização cultural do cristianismo
Neste processo de liquidificação da modernidade sólida, e este é o elemento que gostaria de registar para introduzir a dificuldade que se desenha no título, não poderemos não aceitar que nas sociedades ocidentais o cristianismo perdeu força e originalidade, deixando de ser vivido e compreendido «como premissa e promessa de uma vida boa e digna do homem». No tempo que nos é dado viver, mais do que nunca, sabemos que o ato de fé deixou de contar com a proteção dos centros bem delimitados, dos conventos amuralhados, das cidades protegidas. Apercebemo-nos que hoje já não é «a diferença a ter que dar conta de si no tribunal da identidade, nem a liberdade no tribunal da verdade, nem a multiplicidade no tribunal da unidade, nem, por fim, o finito no tribunal do infinito. São, agora, a identidade, a verdade, a unidade, o infinito a dever dar razão de si diante da instância da diferença, da liberdade, da multiplicidade e do finito».
A cada instante nos damos conta de que o cristianismo é sempre mais percebido como uma «realidade remota, distante, afastada das práticas que marcam a forma quotidiana de estar no mundo»: resíduo de tempos idos ou, então, exemplo de uma das últimas ideologias que, ao peso da existência, juntaram a insensatez e a inutilidade de tantos outros pesos. Por vezes, é abordado como «reservatório de símbolos e de citações daquele pequeno mundo que foi a época da cristandade», mas para fins políticos, de memória cultural, inclusive de aproveitamento publicitário (lembramo-nos, só para dar um exemplo, como uma marca alimentar, bem conhecida, retomou os sete pecados capitais para dar nome a uma gama de gelados). O modo como textos, espaços e símbolos são utilizados tem já muito pouco a ver com o modo como nasceram e como são ainda percebidos e vividos pelos crentes. Não são seguramente sinais da verdade cristã, mas tão-somente elementos culturais, ao lado de outros, propícios a novas criações e itinerários inéditos, ou, então, ajudas importantes para reencontrar o mínimo de memória coletiva, quando somos confrontados culturalmente com identidades ainda fortemente sólidas (pensemos, por exemplo, nas sociedades islâmicas). Portanto, é mais como produto cultural que são usados. Claro que este estado de coisas provoca um grave desconforto ao cristianismo, que reconhece já não conseguir tocar os lugares e ritmos elementares da vida humana e que só com dificuldade chega a «ter voz no capítulo» dos gestos e pensamentos do quotidiano.
Não sem ter gerado grande polémica com a sua análise, particularmente sensível ao que chamou 'estetização do cristianismo' (a sua redução a produto cultural que, se como elemento 'folclórico' pode ainda ornamentar a cultura, deixa cair a verdade evangélica come verdade de que se vive), foi M. De Certeau, para quem o processo histórico do cristianismo, desde o afirmar-se da modernidade, se tem caracterizado essencialmente pela perda do corpo eclesial, que se traduz numa progressiva retração da sua influência na configuração do inteiro espaço público e, ao nível da vida quotidiana dos crentes, na desvinculação da fé individual da instituição eclesial. A tradição cristã deixou de ser capaz de garantir a articulação entre as convicções dos crentes e as suas práticas.
Segundo a sua análise, houve tempos em que a Igreja organizava o espaço, no interior do qual se tinha a garantia de habitar o campo da verdade. A esta identidade ligada a um 'lugar' bem definido ancorava-se a ação de pessoas individuais e de grupos. Hospitais, escolas e outras obras; associações divididas por sectores e ambientes eram movidas pela convicção de realizar a expansão da verdade conservada no interior. Hoje, parecido com aquelas ruínas das quais retiram pedras para construir outros edifícios - lembremo-nos, por exemplo, do anel exterior do Coliseu, em Roma -, o cristianismo tornou-se para as nossas sociedades o fornecedor de um tesouro de linguagem, símbolos e ritos, reutilizados agora noutros lugares. Cada um usa estes materiais e hábitos ao seu modo e segundo os seus interesses culturais, artísticos ou outros, mas sem que a autoridade eclesial possa gerir a distribuição ou definir o valor de sentido. Na realidade, nem os indivíduos nem os grupos se sentem obrigados a assumir o todo do sentido do evangelho e da prática cristã, que não são acolhidos nem como revelação nem como verdade. Daqui, conclui De Certeau, talvez com excessivo radicalismo, mas não sem dar que pensar, a Igreja deixou de ser «corpo de sentido». Pela fragmentação e disseminação dos seus elementos, a sua mera presença social deixou de assegurar a formação de novas militâncias. Além disso, nem tão pouco as determinações dogmáticas e morais, por exemplo, a nível sexual, profissional, científico ou outras, conseguem fazer-se acolher como determinantes, inclusive por aqueles que se assumem crentes. A instituição eclesial deixou de ser percebida e vivida como lugar efetivo onde aprender a correta articulação entre as convicções de fé e as práticas sociais. Parece termos chegado a um momento em que as instituições aparecem, talvez ainda intactas, mas esgotadas, como conchas vazias abandonadas na praia. Deixando de ser corpo, isto é, realidade vital que habilita à prática crente capaz de incidir na história (recorde-se que a verdade cristã é destinada a realizar-se na história, dando-se, portanto, em acontecimentos singulares capazes de assinalar cada presente como momento que serve a vida humana efetiva), torna-se corpus, isto é, um conjunto de textos, liturgias, edifícios, geridos burocraticamente.
Como reação, a Igreja oficial deixa de atender às práticas efetivas dos crentes para centrar o seu empenho num discurso sobre valores que se propõe dar resposta a todas os problemas dos indivíduos e da sociedade. Isto é, multiplicam-se os discursos sobre o certo e o errado, o justo e o injusto, o permitido e o proibido ou, então, sobre grandes palavras como Amor, Justiça, Humanidade, Diálogo, Povo de Deus, etc., mas sem que o recurso a essas formas de dizer realize o que quer que seja. Portanto, protege-se e multiplica-se o discurso, espiritualizando-o, mas negligencia-se o corpo enquanto organismo vivo ferido pela verdade evangélica: corpo que possa fazer viver e cuja prática, enquadrada pela autoridade que autoriza a designar como cristã determinada experiência individual ou comunitária, seja capaz de gerar uma forma de igreja visível e digna de ser vivida. O peso desequilibra-se, portanto, para a linguagem, o saber, os enunciados, o sentimento privado, como se bastasse fazer passar as verdades e valores imutáveis numa nova linguagem. Neste sentido, a prática é entendida como mero objeto de um discurso que parece poder fechar a verdade cristã no passado ou imobilizá-la no presente, esvaziando-a da sua força operativa. A regulá-la parece bastar o rigorismo do direito. Ou, então, tende a desvanecer, tanto no intimismo e no subjetivismo da experiência espiritual, talvez reconfortante mas visivelmente inconsequente, como no pragmatismo e na militância que vivem de uma apologia do fazer e do empenho que esquece os motivos e o estilo evangélico.
Também por causa deste aspeto, dizia que, se o título colhe a mudança do tempo, traduz também as fortes exigências que se colocam à prática comunitária e à transmissão de fé, sobretudo enquanto provoca a reconfiguração do corpo eclesial como realidade vital determinada pela tensão entre a boa notícia evangélica e as condições históricas. Por isso, «crer na fronteira» não será apenas questão de adesão a enunciados mas de práticas geradas pela verdade evangélica e que incidam sobre o nosso momento histórico, já não determinado no seu todo pelo cristianismo. Quem já fez Exercícios Espirituais de S. Inácio poderá compreender mais facilmente o alcance deste desafio. Por experiência, sabe que o desejo que o leva a retirar-se (o desejo é já dom de Deus que atrai) e que o conduz ao longo de cada momento de contemplação da vida de Cristo deve chegar a assumir um corpo concreto numa forma de vida determinada. O justo desejo que move o exercitante não é o de reencontrar o relaxamento e o bem-estar psicológico perdido na vertigem da vida quotidiana mas o de conduzir ao lugar que lhe convém e que corresponda à vontade do Senhor.
A Igreja parece balançar hoje entre a tentativa - ou a tentação -, mais defensiva, de salvar o salvável, pelo reforço da identidade recebida, e o acolhimento, mais arriscado, de afrontar a crise como chance, expondo-se, para isso, a uma reconfiguração favorecida pela aparente adversidade do tempo. Neste ano Paulino, recordemos como o dramático, quase violento, discernimento dos primeiros tempos da Igreja, entre Pedro e Paulo - digamos assim para simplificar -, foi berço de um corpo eclesial inédito. O espaço aberto no Espírito gerou um corpo original, inicialmente inimaginável. Por isso, essa chance diz respeito à forma do corpo eclesial, que hoje não deveria proteger a sua secura deslocando todo o peso para a boa ou má vontade dos indivíduos que, no dizer vulgar, já não têm valores nem religião. Sublinhando este tópico, a oportunidade kairológica não poderá passar ao lado da prática crente e da configuração que esta venha a dar ao corpo que a Igreja é.
A mesma questão pode colocar-se aos carismas tidos, por vezes, mais como relicários de um património fossilizado do que pre-missa de uma pro-messa a realizar no tempo. A dita 'crise' é facilmente deslocada para a falta de vocações (a tal má vontade ou corrupção, neste caso das novas gerações). A ela se resiste pela oração fervorosa para que o Senhor mande «muitas e santas vocações» e pela procura de alguns expedientes para tornar a vida religiosa um pouco mais atrativa. Mas o corpo e a sua prática resistem, consciente ou inconscientemente, ao discernimento que permita reencontrar, sob as novas condições históricas, a promessa que o carisma inicial permite hoje. É que o carisma não disse nem fez tudo, não por ser limitado, mas por ser excedentário, abundante, enquanto abre espaço à liberdade do Espírito. A sua força, reconhecida pela autoridade eclesial, é de tornar possível num momento concreto da história o que o evangelho já prometia mas que ainda não existia, nesta forma particular. Depois, o que dirá e o que fará não será fora da particularidade dos tempos e lugares, que continuamente mudam, tomando sempre novas qualidades. O carisma cria um espaço de possibilidade, cuja forma dependerá da feliz relação que, no discernimento comum e na iniciativa de uns e de outros, se reconhecer entre o Espírito do Ressuscitado e esses tempos e lugares particulares. O 'corpo carismático' é caixa de ressonância e de possibilidade, não de simples repetição ou imitação do arquétipo inicial que dispensaria de viver hoje. É espaço aberto a reiterar de modo inédito o movimento inicial, segundo a circulação livre do Espírito, sem nunca esgotar ou aprisionar essa mesma "premissa" que "permite" o inédito. «Uma audácia nova, afirma De Certeau, permanece o momento decisivo da fidelidade». É o preço a pagar pelo risco de existir para este momento da história.
A oportunidade de graça passará pela aceitação da insegurança das fronteiras como lugar teológico privilegiado para a nossa fé em Jesus de Nazaré. Para isso, a alteridade dos tempos que vivemos, esse outro não poderá ser ignorado ou removido mas deverá ser tido como aquele no qual hoje haveremos de perguntar novamente: qual é a vontade de Deus para nós? Porque, de facto, a história real fala-nos do nosso Senhor.
Da remoção do outro ao «não sem o outro»
No esquema representativo A > B - sendo A a instituição eclesial, B o mundo e > o tipo de relação que se estabelece entre ambos, podemos condensar a figura de correspondência que a Igreja, concebendo-se como sociedade perfeita, foi determinando com a realidade no seu conjunto (moral, social, cultural, etc.). A ensina a B a verdade recebida por revelação, aquela que B precisa para a sua salvação e que, de outro modo, não alcançaria. A é, pois, depositária de uma verdade revelada que deve configurar B em todos os seus domínios. Neste esquema, a verdade é assumida essencialmente como dado recebido do alto, conservado dentro e que deve ser exprimido fora. Deus comunica a revelação, como um depósito de verdades dogmáticas e morais, que a Igreja recebe, conserva e transmite, de modo a in-formar o mundo. Por seu lado, o mundo e a sua história em nada contribuem para a configuração de A. Na verdade, a incarnação do Verbo, que acontece não apenas na história de Jesus de Nazaré mas como sua história, acaba por ser tida mais com um pretexto para a formulação dogmática que, uma vez estabelecida, cobre de névoa «o significado perene da humanidade de Jesus [que é a nossa própria humanidade assumida pelo Verbo] na nossa relação com Deus», para usar as palavras de K. Rahner.
Como referi antes, com a modernidade afirma-se a progressiva autonomização de B em relação a A: B contesta A e reivindica a sua própria autonomia. O esquema entra profundamente em crise, de tal modo que, hoje, nas suas múltiplas configurações, B dispensa completamente A, pelo que a correspondência linear de A a B foi quebrada. A não sabe como chegar a B. B não considera A: na prática, A é-lhe indiferente.
Curiosamente, apesar da crise da modernidade e de toda a evolução, teológica em geral e eclesiológica em particular, proporcionada, de modo especial, pelo Vaticano II, na linha de pensamento de M. De Certeau, S. Morra recorda como continuamos a pensar e a agir com o mesmo esquema A > B. Entendendo a revelação como um «pacote ideológico dogmático», a questão que se põe é mais ou menos a seguinte: como reformular o depósito da revelação, ao nível da linguagem e de outras estratégias de comunicação, de modo a que seja, de novo, apreciada e acolhida. Em relação aos carismas eclesiais e, em especial, à sua configuração em Ordens e Congregações religiosas, tocadas hoje pela escassez de novos membros e pelo definhar de obras antigas, como dizia há pouco, aplica-se um esquema semelhante. A fidelidade é entendida mais como um dizer de um outro modo o que fora dito pelo fundador ou fundadores do que a disposição a criar, em tempos diferentes, o novo que o carisma inicial permite. Neste esquema, o carisma é tido como um dado que se guarda, como se guarda uma relíquia, e não como uma promessa que permite o futuro que ainda falta, talvez de outro modo, noutros lugares. O mundo é visto como o inimigo do qual proteger-se; a configuração do tempo, o estado de coisas a lamentar; o Espírito, a consolação para a alma infeliz, não o fogo que, no discernimento, gera a prática de um corpo vivo. Questionamos, portanto, apenas a passagem de A a B, na constatação de que B se tornou problemático, secularizado, cético, indiferente, menos disponível, mas sem nos questionarmos sobre o papel que B sempre tem na re-descoberta da verdade e da identidade de fundo de A, neste caso da Igreja e dos seus carismas específicos. Não é que A receba a verdade de B. A já é serva da verdade revelada em Jesus. Mas é próprio da verdade de que A é serva, não ser sem B.
É neste sentido que vai o esquema de De Certeau, seguramente mais ousado e não sem riscos, resumido na expressão - pas sans toi -. Na oração «não permitais que eu me separe de Vós», rezada pelo sacerdote antes da comunhão, encontra o seu paralelo litúrgico. O não sem ti, não corresponde a um vago sentimento de tolerância, ao gosto do tempo, ou de abertura a tudo o que é diferente. O outro, que pode ser ateu, indiferente, distraído, etc., não é o inimigo que não quer aceitar-me porque é mal intencionado, nem o intelectualmente limitado que não me acolhe porque não vê as coisas de forma correta. Esse outro, todo o outro, pessoa ou situação ou momento histórico no seu conjunto, com as suas linguagens e razões, é aquele que contribui a determinar a verdade que eu já possuo: esse outro, tal e qual como é, tem algo a dizer-me de mim mesmo. Esta hospitalidade sincera não é - volto a sublinhar - relativismo nem indeterminação ou falta de identidade. É, antes, a posse de uma verdade que já temos pela revelação de Deus em Jesus de Nazaré, mas que não será plena sem esse outro. É próprio da verdade que já tenho pela fé em Jesus não ser sem esse outro. Jesus Cristo não é, antes de mais, um conteúdo que se conserva do passado, mas a plenitude escatológica que, no Espírito Santo, nos atrai, para que seja tudo em todos. Neste sentido, diz De Certeau, a confissão de fé diz-se do mesmo modo que a declaração de amor: «não posso viver sem ti». Fé e amor, indissociáveis, como Deus que não quer dizer de Si sem se ligar permanentemente a nós pela nossa própria história, fazendo-se presente, sem deixar de ser Outro, na história de Jesus de Nazaré.
Por isto, a fé tem o seu lugar na fronteira, isto é, na charneira que o outro é, sem a qual eu não sou plenamente cristão. Dando-lhe lugar, reencontro-me mais plenamente com a verdade de Deus que não quer ser fora da particularidade e da contingência de cada tempo e espaço histórico (a verdade cristã não é separável, nem da história nem da liberdade individual que a reconhece como tal), verdade que acolho pela fé em Jesus de Nazaré. Por isso, ao dar espaço ao outro não me estou a negar nem a pôr entre parêntesis a verdade mas a re-acolhê-la na sua perene novidade e fecundidade, como Elias à saída da caverna (I Re 19,9-14). E assim se configura um rito de passagem entre o dentro e o fora. Não só dentro, porque aí se sublinhariam apenas os traços de uma revelação entendida como identidade compacta, depósito fixado em si mesmo, facilmente exposto a tornar-se ideologia. Seria o dentro do lugar de ensino autoritário, mais do que com autoridade; da moralização fácil e da insensibilidade à complexidade da vida quotidiana e dos percursos biográficos; do juízo sobre tudo e todos os que estariam fora. Não só fora, porque aí se viveria de dispersão e de veleidade, de indefinição e de indeterminação, de encantamento com toda e qualquer novidade sem raízes que lhe dessem consistência, de negação da memória que sustenta a promessa, de falta de coluna vertebral que nos é dada pela palavra definitiva de Deus pronunciada em Jesus de Nazaré. É o risco pós-moderno de perder qualquer muro e de só ter portas, limiares que se multiplicam ad infinitum, mas sem configurar nenhum lugar. Como nota S. Morra, nesse caso, nem se sai porque não se chega a entrar. O ritual de passagem entre dentro e fora pressupõe, como afirma ainda, que se seja muro que conserve (este é o papel da instituição) e, ao mesmo tempo, que se seja fronteira pela disponibilidade a compreender mais plenamente a verdade que se possui naquilo que o outro oferece.
Percebemos que a tarefa não é pequena. Antes de mais, porque implica uma kenose sob forma de renúncia à pressa de projetar ideologicamente o que já se possui e de antecipar o que no outro pode ser realmente diferente. Depois, porque força uma prática enraizada, pela qual «as instituições do crer sobrestimaram a sua capacidade e papel de resistência, até se identificarem totalmente com esta dimensão» Por isso, «perderam de vista o seu dever de abrir, de constituir e de consentir sempre novos limiares, onde novos campos se abriam e se constituíam fora dos seus muros».
De Certeau lembra-nos como toda a história da modernidade é edificada sobre um sistema que remove o outro. O branco ocidental afirma-se sobre os indígenas de outras paragens, até então desconhecidos; o adulto sobre as crianças; o homem macho sobre a mulher; os sãos de mente sobre os deficientes mentais. Excluído como sujeito, o outro entra na linguagem apenas como objeto de estudo especializado. Mas, além do outro como sujeito, poderíamos acrescentar também a exclusão da ressonância afetiva, posta à margem do "ser" do humano pelo primado da razão científica; do crer removido pelo saber iluminista ou do sentir pelo pensar racionalizante. E o que dizer da longa história da remoção da sexualidade, imediatamente associada ao pecado e sublimada por um ideal de pureza angélica? Evidentemente, e como regista S. Morra , o que havia sido removido, regressará mais tarde com o movimento dos negros, dos jovens, das mulheres, da revisão do estatuto da loucura. Tal como veio a impor-se o primado da subjetividade, do sentimento, das múltiplas racionalidades que contrastam e contestam a primazia da racionalidade iluminista e positivista e se impõe também o registo erótico na configuração das linguagens e dos espaços comuns. Evidentemente, o regresso do outro removido toca de perto a articulação das próprias instituições da sociedade ocidental, pondo em causa certezas e obrigando ao deslocamento de múltiplas fronteiras.
Sabemos como a história filosófica recente vem rever e recuperar o estatuto da alteridade, face à idolatria do mesmo. Pensemos, só para citar alguns nomes do campo filosófico, em M. Heidegger e na abertura ao transcendente pela reivindicação da distinção entre ser e ente; em E. Lévinas e no carácter fundador do apelo ético que chega do Outro, no rosto de qualquer outro, não reduzível ao idêntico; em J. Derrida e na sua crítica do saber que possa pretender esgotar todo o sentido, uma vez que este é plural.
E, no cristianismo, qual o estatuto teológico do outro e do acolhimento que lhe pode ser devido? Qual o seu lugar na clarificação do logos, do pathos e do nomos cristão? Não será aqui o momento para desenvolver muito mais este tópico, mas evoco, a propósito, o pensamento do teólogo italiano G. Ruggeri. Na expressão evangélica «Deus amou-nos quando ainda éramos pecadores» (veja-se Rm 5,6.8; também 2 Cor 5,21), encontra o grande alicerce para o seu pensamento. A humanidade pecadora é a fronteira humana mais longínqua por corresponder à recusa de Deus, ao lugar da Sua própria ausência. Mas é esse o 'lugar primeiro que Deus escolhe para habitar. Por isso, a periferia é chamada ao centro, justamente porque o centro é a fronteira. É, pois, neste lugar que nasce a Igreja. De tal modo que ela não condescende quando sai da segurança dos muros bem protegidos que, entretanto edificou como primeira habitação, porque o seu lugar de nascimento e de vida é o confim. Na humanidade pecadora temos o outro mais radical, o outro acolhido com tudo o que o caracteriza, a sua linguagem, a sua mundividência, as suas razões. É aí o lugar em que a revelação se dá, em que a fé se gera e a Igreja se edifica. Não é uma assunção de conveniência estratégica ou de recurso a contra gosto, num segundo momento, mas, antes de mais, a sua incorporação originária na reconstituição coerente do logos e do corpo cristão na história.
A passagem que se faz «passio». Epílogo
Começando a concluir, "crer na fronteira", ao sugerir a deslocação do ato de fé e da prática crente do centro da identidade, bem delimitada, para a instabilidade das periferias, apresenta-se, assim, como um duplo programa. Abre, por um lado - e este é o seu lado sugestivo, ao gosto dos nossos tempos líquidos -, à fronteira como lugar habitável, no qual se deposita confiança: abre ao êxodo como domicílio. A suspeição de que este lugar de passagem, de instabilidade, de tráfico, de insegurança, de miscigenação, de impureza ele língua, poderia suscitar, face aos centros estáveis, guardiães de identidade sólida, é convertida pela confiança de poder tornar-se kairológico, isto é, lugar de graça, ele que foi já e perenemente assumido, em primeiro lugar, pelo Filho incarnado. Como afirma G. C. Pagazzi, «Jesus é o único que idêntico a Deus mantém para sempre, em harmoniosa diferença, quanto assumiu na sua identidade». «Em Jesus, o Filho de Deus deixa espaço ao que é diferente de si [...]. E este deixar espaço ao que é diferente de si não impede que este mesmo diferente seja idêntico ao Filho de Deus. Deixar espaço ao diferente e ser idêntico ao diferente, em Jesus, crescem de modo direto». Assim, crer vale aqui como ter confiança na fronteira. Por outro lado, afirma a própria fronteira como o lugar privilegiado onde se crê: essa é lugar da fé, onde se regenera o corpo eclesial, sempre a re-fazer, e se desenha o estilo cristão, sempre a re-novar.
Já a expressão «habitar novas fronteiras» - este é o lado mais exigente -, como nos sugere G. Mazza, «significa deixar-se reestruturar pelo espaço interior e exterior, garantindo a si mesmo o suficiente grau de permeabilidade útil à osmose entre os dois contextos». No âmbito desta exposição, entre a fé cristã e as novas fronteiras deste nosso tempo. É, portanto, um traço próprio da existência, qual movimento de desapego e de apropriação de si mesmo no fluxo dos espaços existenciais. Implica, por isso, tanto potencialidades como riscos. Entre estes - é F. La Cecla a recordá-lo - está o de se perder ou de perder significado ou, então, de ver transformado o domicílio em exílio ou prisão. Já as potencialidades estão no dar-se uma fisionomia em harmonia dialética com a realidade circundante. Aqui, o limiar ou a fronteira passar-se-á apenas se se aceitar tomar em consideração «o outro domínio, aceitar a sua influência benéfica, ou não, sobre a nossa identidade», já que «o limiar é um lugar onde duas identidades se atestam no espaço, se esperam, se confrontam, se refletem, se defendem». A disposição a habitar novas fronteiras traduz, pois, a disponibilidade a reconfigurar o corpo.
É, portanto, o dinamismo do movimento que emerge neste tema da fé em fronteira, no limiar, na passagem, com as
suas aberturas prometedoras mas, também, com os seus riscos e ameaças. Trans-ire. Atravessar, o que «implica uma mudança de coordenadas, uma deslocação de acentos e de prospetivas». E, por isso, a passagem pode tornar-se dolorosa: «a passagem que se faz passio, o ferir que se faz com-ferir». Donde segue que de conversão se trata também. Mas não apenas das consciências. Também do corpo, porque a fé, ou incide na vida biográfica e na história coletiva ou é opção insensata e inconsequente por uma palavra insignificante, por um gesto que nada faz.
Retomando e relançando o início, crer na fronteira configura um modo de proceder ao estilo de Jesus a caminho de Emaús. Primeiro que tudo, é generosidade de atenção, sabedoria de leitura, arte de descrição: modo de ser e de fazer que permite revisitar e narrar movimentos e lugares desta nossa humanidade, sempre demasiado estreitos e sufocantes, sempre admiravelmente largos e promissores. Essa mesma descrição far-nos-á compreender que o que, aparentemente, era fim, não é, senão, princípio fecundo de muitas coisas. Depois, é dedicação, senão a ligar, pelo menos a fazer cumprimentar pontos separados, na convicção profunda de que os lugares humanos mais longínquos são os primeiros no coração de Deus. Porque foram esses que abraçou - e abraça - pela incarnação do Verbo, no Espírito. Nesses, hoje, e pelo discernimento espiritual, inspirará novos modos de incarnar a fé em Jesus de Nazaré - de lhes dar corpo visível -, o Filho de Deus em quem toda a humanidade ferida é salva. Dando-lhes a palavra, convidando-os a entrar em nossa casa, queremos, com a sua presença, compreender o que o Senhor quer de nós. Por eles saberemos melhor quem somos e o que Nosso Senhor diz hoje às Igrejas. Possivelmente, teremos também que chegar a contestar o que neles é corrupção, desordem e engano. Porém, não para os rebaixar do alto da nossa suposta grandeza ou deles nos separarmos pelo temor de acharmos contaminada a nossa presumível pureza, mas para os despertar para a graça daquela verdade de que se pode viver e que faz viver. Graça que, elevando, salva; graça que por entre os espaços deste nosso mundo faz entre-ver e celebrar O sempre operante, O sempre presente. E, por ser dom oferecido aos homens e mulheres de cada tempo e lugar, cujas histórias sempre se deslocam, é graça que re-desenha o corpo visível e orgânico de Cristo que somos. Não sem a paixão pela revelação de Deus em Jesus. Não sem a paixão pelos contornos de cada tempo e lugar.
José Frazão Correia
Doutorando em Teologia Fundamental na Universidade Gregoriana, Roma
In Brotéria (Janeiro 2009)
Atualizado em
25.03.09

Werden (1919) (det.)
Augusto Giacometti




















Introdução
A generosidade da atenção, a sabedoria da leitura, a arte da descrição
«Dos líquidos». A necessária consciência dos nossos tempos de 'trânsito'
Do fim da cristandade. A marginalização cultural do cristianismo
Da remoção do outro ao «não sem o outro»
Sinais: Fé e cultura em imagem (Bento XVI em África - I) | IMAGENS SLIDE SHOW |
Crer na fronteira. Habitar novas fronteiras (VI) - A passagem que se faz «passio». Epílogo
Semana Santa de Braga: programa religioso e cultural | IMAGENS |
Revista «Communio» lança edição dedicada ao tema da Beleza
Prece pela compreensão das Escrituras
O Evangelho das imagens | IMAGENS |
Como é que o Rabi trata com tal gente?
Diálogo: Tarefa cultural premente
Semana Santa de Óbidos: celebrações religiosas e eventos culturais | IMAGENS |
Leitura: Um século de música sacra na Madeira
A Quaresma da Misericórdia | IMAGENS |
Breves:
Revista Brotéria - Fevereiro
Paixão segundo São Mateus, de Bach