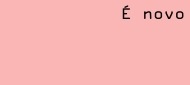Entrevista
A fé é claramente nocturna
É como se fosse também ele um pescador, tal como o pai, a quem ouvia ler a Bíblia na infância. Pescador de palavras, avaliando-as num fio de voz tranquilo e sereno, ao surgirem, hesitantes. De repente, num instante de maior eloquência, chegam em cardume. Na maior parte do tempo vêm uma por uma, rodeadas de silêncio. Fecha os olhos para as procurar melhor e, durante a conversa, há alturas em que é como se estivesse a ditar um texto a ser-lhe soprado ao ouvido.
José Tolentino Mendonça, professor de Teologia na Universidade Católica de Lisboa, é um poet reconhecido, com nome já inscrito na literatura portuguesa. O Viajante sem Sono é o título mais recente da obra deste padre nascido na Madeira em 1965.
Entrevista de Carlos Vaz Marques, na revista «Ler» de Dezembro.
Quem é o viajante sem sono?
Sou eu e é o ser humano na sua condição de homo viator, de caminhante, de itinerante.
Supus que fosse o próprio poeta, realmente.
Acho que é sempre o poeta, porque a poesia é uma acção humana altamente implicativa. Não é possível uma exterioridade.
Ao contrário da narrativa, onde é possível contar o mundo sem se contar a si mesmo?
Mesmo na narrativa é sempre a ficção de si que no fundo está em causa, de uma forma mais próxima ou mais distanciada. Na poesia penso que somos sempre os principais suspeitos do poema que escrevemos.
Esta falta de sono do viajante de que fala o título do seu livro é sintoma de receio ou de entusiasmo?
Este é um livro escrito a meio da vida e penso que é atravessado por esses dois sentimentos.
Entusiasmo e receio.
Por um lado, uma capacidade de espanto que penso que aumenta com o tempo. Uma capacidade de deslumbramento perante o mundo, perante a realidade. Ao mesmo tempo sentindo que o tempo é escasso, que o tempo de vigília acaba por ser pequeno perante o milagre que nos é dado testemunhar, verificar: no fundo, o milagre da própria vida nos seus detalhes mais ínfimos.
É por isso que não há tempo para o sono?
Por um lado é por esse desejo de vigília, de manter os olhos abertos. Mas por outro lado também há essa outra dimensão de um sentido de perda, de uma indagação mais profunda, de uma vigília forçada que penso que a nossa condição humana, mais tarde ou mais cedo, acaba por nos impor.
Lembrei-me, quando estava a falar do entusiasmo e do tempo curto disponível para a vigília, de uma frase que diz qualquer coisa como «Eu tenho a morte toda para dormir».
Entendo bem essa frase. Mesmo sentindo que a construção que nós somos é provisória, mesmo sentindo-nos profundamente a caminho, inacabados e imperfeitos (uma consciência que a própria idade aprofunda), é verdade que sentimos uma urgência, podemos dize-lo, quase adolescente. Urgência que é, no fundo, esse alvoroço.
A idade não vai provocando uma certa erosão nesse entusiasmo?
Pelo contrário. Tem tornado tudo ainda mais intenso e mais urgente.
Este título, ao contrário do que é frequente, não está contido entre o versos do livro. Surgiu-lhe antes ou depois de reunir este conjunto de poemas?
Surgiu antes e foi uma espécie de fio condutor, de lugar implícito à própria escrita. É a linha que costura a diversidade destas composições poéticas.
O Viajante sem Sono (Assírio & Alvim) é um título que tem muito em comum com o do seu volume anterior de poesia, A Noite Abre Meus Olhos, em que reúne todos os livros que publicou. Um e outro explicam-se mutuamente?
Isso é uma surpresa. Sem o sabermos habitamos os mesmos lugares em continuação.
Ainda não se tinha dado conta deste diálogo entre os dois títulos?
Dei-me conta depois. É aquilo que a Sophia de Mello Breyner dizia: «O poema sabe mais do que o poeta.»
Dá-se conta disso com frequência?
Sim. Muitas vezes. O poema é um sintoma de mim muitas vezes mais desperto do que a minha própria consciência.
Temos estado a falar de uma noite que em vez de provocar sono, desperta. Que noite é esta?
Sendo o dia, por excelência, o lugar da tarefa de existir, dos nossos tráficos e trânsitos, do nosso empenhamento, do nosso acto de criar o mundo, talvez a noite seja o melhor espelho para dizer o Homem. A solidão que a noite implica, como contexto, e ao mesmo tempo a perspectivação daquilo que é o Homem, o desenho mais exacto de nós, só a câmara escura da noite é capaz de revelar. No sentido de que o Homem está só com o Universo. O seu contexto como que se apaga. É aquilo que diz Borges: a História Universal é contada por um só homem. Como se isto se pudesse repetir em cada um. Nesse sentido, a noite é esse estado de consciência profunda de si, em que o Homem está só perante o horizonte de sentido ou perante o silêncio da própria vida. Está só debaixo dos céus. É nesse momento, penso, que o poema deflagra.
É noctívago?
Sou noctívago no sentido de que empurro o sono para um lugar cada vez mais distante. Aproveito a noite para trabalhar, embora sempre com um remorso muito grande. Sempre que acordo muito cedo fico com o remorso de não o fazer sempre. A luz da manhã e o ciclo solar, de facto, trazem-me elementos que são como que um grande presente.
Vê a noite corno uma metáfora melhor do que o dia para descrever a vida?
Sim. Para a vida individual, a vida pessoal, o dinamismo de consciência que o Homem tem de si, a audição mais profunda de nós mesmos, penso que a noite é olugar ideal.
Curiosamente, apesar de haver vários poemas seus que podem ser lidos como artes poéticas, o único a que deu o título de «Arte Poética» está no livro Baldios e fala justamente da noite: «Tinha passado toda a noite / ele mesmo se sentia perdido / diante dessa presença sem palavras.»
Penso que a noite é o contexto para indagação antropológica mais funda que o trabalho poético exige.
Os seus poemas são escritos mais frequentemente de noite do que de dia?
São escritos numa espécie de noite.
«Numa espécie de noite» quer dizer que pode viver durante o dia situações nocturnas?
Há dias que são mais escuros do que a noite. Há noites que são mais brilhantes do que o dia.
Outros dois versos seus: «Atravessamos a noite com uma vontade irreprimível de cantar.»
No oficio poético, sendo um oficio nocturno – no sentido de que acentua umas dimensões da existência em detrimento de outras - há detalhes, há elementos, há factores diurnos da vida utilitária, da vida corrente, que são recolocados de outra forma em nome desse processo de visitação, de hospitalidade, que é a poesia. Um processo em que um homem é hóspede de si. Em que nos acolhemos a nós mesmos, na nossa palavra e no nosso silêncio. Esse trabalho é um trabalho sempre próximo do canto. Todo este trabalho - que é todo ele um oficio de silêncio - é em função de uma voz que se torna irreprimível e que do silêncio alcança, às vezes por uma ponte de cordas suspensa num abismo, o possível da palavra.
A noite e o silêncio são duas imagens que usa com muita frequência. Aceitaria que se dissesse que são dois pólos aglutinadores da sua poesia?
São, sem dúvida, dois quartos desta casa que é a obra poética. A noite é também um tópico da tradição poética e da tradição mística. A noite é o lugar da experiência mais funda. A noite, como dizia São João da Cruz, é o tempo da casa sossegada
A sua noite é mais a de São João da Cruz do que a de Novalis?
Diria que é uma noite entre as duas. O silêncio também tem a ver com a noite. Há um tipo de silêncio que só a noite tem. Um silêncio onde sentimos o próprio mundo, onde sentimos o tempo de uma outra forma. Esse silêncio interessa-me muito como lugar de visibilidade. Penso que a noite é um lugar onde se vê melhor o próprio silêncio.
Paradoxalmente, essa insistência no silêncio toma-nos mais conscientes de como ele hoje é um bem escasso.
Penso que a função da poesia é reabilitar o silêncio, é perfurar o ruído - o ruído que somos, o ruído que nos cerca - até encontrarmos camadas subterrâneas de silêncio.
Como um prospector de petróleo?
Exactamente. Vai perfurando até encontrar a camada de silêncio que todas as vidas têm.
Está a dizer-me que há camadas distintas de silêncio, do mais superficial ao mais profundo?
O silêncio é um caminho. Não basta, por exemplo, estarmos calados para estar em silêncio. Podemos estar calados e o rumor ser ensurdecedor. Há uma qualidade de silêncio que é uma conquista, que é um processo em que nós entramos.
Talvez esta insistência na noite e no silêncio sirva para explicar uma frase sua na qual dizia que «a fé é um salto no escuro».
A fé tem a ver com a noite.
A fé não é diurna, não é luminosa?
Não. A fé é claramente nocturna
Mas uma das construções imagéticas mais presentes ao falar da fé é a ideia de «ver a luz».
Mas a luz só se vê à noite, como as estrelas. As estrelas brilham no céu nocturno. A luz da fé brilha na noite. A fé é um lugar sem certezas. A fé é um lugar de abertura. A fé é uma forma de hospitalidade radical. Para mim, as grandes imagens bíblicas da fé são as da luta de Jacob com o anjo (quando ele, no amanhecer ainda escuro, ao atravessar um riacho, luta com o próprio Deus sem saber que está a lutar com Deus; mas essa imagem do combate nocturno, agónico, um bocado imperceptível mas que nos fere e deixa depois no nosso corpo a ferida, é a imagem mais prodigiosa do que é a fé no Antigo Testamento) e a do percurso que as mulheres fazem de manhãzinha, com o dia ainda muito escuro, a caminho de um sepulcro que encontram vazio. A fé tem necessariamente esse lado nocturno de indagação e de expectativa. A fé é uma expectativa. E é nesse sentido a imagem do salto no escuro.
A sua poesia é um acto de fé?
A minha poesia é o mapa da minha procura. É o testemunho de que eu busquei. Nem sempre diz o que busco mas diz sempre que eu busquei.
Nem sempre o diz por vontade expressa, sua, de o omitir ou por não saber por vezes nomear aquilo de que está à procura?
A poesia leva-nos a integrar a ignorância. Os poemas não dizem o que eu sei, dizem muitas vezes o que eu não sei. O que eu ainda não sei. O que me falta do caminho a percorrer. São muito mais a fractura, o espaço da falta, o tempo da ausência do que propriamente o lugar epifânico de uma presença.
Foi ordenado padre e publicou o primeiro livro no mesmo ano.
Em 1990.
Atribui a essa coincidência temporal algum simbolismo ou vê isso como um mero acaso?
Nunca tinha pensado nisso.
Mas já se tinha apercebido da coincidência temporal.
Sim. Já me tinha dado conta. É algo que acho sempre engraçado. É uma daquelas coisas da vida. Se calhar há um momento em que ficamos preparados para tudo, não é?
Perguntei-lhe isto porque, dada a sua atenção ao simbólico, imaginei que pudesse ver nisto também um sinal qualquer.
Ah, mas eu sou muito desprendido... Não sou desprendido do simbólico mas sou desprendido de uma leitura simbólica da vida. Gosto de me surpreender sempre e gosto que as coisas fiquem numa espécie de latência, sem uma definição. Se me perguntar qual o sentido de no mesmo ano ter publicado o primeiro livro e ter sido ordenado padre, se me perguntar que ligação existe entre as duas coisas...
Era essa, justamente, a minha pergunta.
Para mim, não sei. Estou a descobrir. Acho que vai ser assim até ao fim. Não tenho pressa de fechar a minha vida.
Essa diferença de meses foi então com vantagem para o padre; quer dizer, foi primeiro padre do que poeta publicado.
Sim. Embora tivesse já publicado alguns poemas no DN Jovem, por exemplo.
Foi aí que se estreou como poeta publicado?
Foi. No DN Jovem.
Lembra-se do sentimento que experimentou da primeira vez que viu o seu nome em letra de forma?
Para uma pessoa tímida como eu é sempre uma mistura de sentimentos: sem dúvida uma alegria, um sentido de responsabilidade mas também uma vontade muito grande de que aquilo não seja verdade.
Por um sentimento de desconforto?
Sim. Um certo desconforto.
Esse desconforto perpetua-se hoje a cada novo livro ou já desapareceu, entretanto?
O desconforto mantém-se, no sentido em que quando me pedem para dar um autógrafo ou quando me dizem que leram os meus poemas fico sempre muito atrapalhado. Não sei o que dizer, não sei bem o que fazer, como reagir. Evidentemente que gosto de publicar e é uma situação de serenidade para mim mas uma coisa é o confronto com o livro, outra coisa é a relação que a publicação do livro desperta ou de certa forma impõe. Prefiro sempre fazer de conta que o livro não é meu.
O que é que é mais antigo em si: o desejo de ser padre ou o desejo de ser poeta?
Não consigo separar as duas coisas. No fundo elas correspondem a uma vocação única. Isto pode parecer estranho...
Precisa pelo menos de uma explicação adicional.
Para mim, a poesia é um exercício espiritual, como dizia o Levinas. É o exercício espiritual por excelência. Nesse sentido, embora a poesia tenha no seu fazer um determinado tipo de atenção, um determinado tipo de manufactura...
Códigos próprios.
Tem códigos próprios, sim. A verdade é que senti sempre, no meu percurso vocacional, que aquela frase do Novalis é sempre verdade para um homem de fé: «Quanto mais poético mais verdadeiro». O discurso teológico por excelência é feito pelos poetas. Na minha formação espiritual o lugar que São João da Cruz tem, acaba por construir em mim, no meu interior, uma grande unidade. Porque as palavras que expressam o poético são as mesmas palavras que expressam a indagação crente, a construção da experiência crente. É como se fosse uma única experiência. A experiência crente também é um exercício de atenção. Também é um tempo de espera. Tal como a poesia. O silêncio inerente à experiência poética é, penso eu, o silêncio inerente à experiência de Deus, à experiência crente.
Como é que se fez a sua educação poética?
Fez-se pela Bíblia, pela leitura da Bíblia.
A Bíblia foi o primeiro livro com que conviveu?
O primeiro grande livro, sem dúvida. Na polifonia das suas vozes, na intensidade dos seus registos, na singularidade ardente dos vários escritores que nela estão presentes, a Bíblia foi sem dúvida a minha grande escola acústica. Acho que a Bíblia fez o meu ouvido.
Diz «acústica» por ter começado a ouvi-la antes ainda de a ler?
«Acústica» no sentido de que a leitura é sempre também uma audição.
Não era então uma expressão para tomar à letra.
Sim, não era para tomar à letra. Mesmo a leitura silenciosa prepara-nos para uma determinada acústica do texto.
A minha pergunta deveu-se ao facto de, para muita gente, a Bíblia começar por uma experiência de transmissão oral, antes de eventualmente se tomar uma experiência de leitura. No seu caso não foi assim?
Em parte, sim, sem dúvida. Há uma tradição litúrgica onde me inscrevo. Mas foi sobretudo uma experiência de leitura e de estudo. E depois umas coisas levam às outras: quem se apaixona pelo profeta Isaías ou pelo Cântico dos Cânticos, ou pelo Livro de Job necessariamente apaixona-se por Camões ou por Fernando Pessoa ou por Herberto Helder. Ou por Eliot ou por Pavese. Ou por João da Cruz. É uma questão de sermos consequentes.
Cresceu rodeado de livros ou só com a Bíblia por perto, numa primeira fase da vida?
A Bíblia já é uma biblioteca. Mas tive a sorte de viver sempre rodeado de livros e com casas onde existia uma biblioteca sempre muito heterogénea. Aí acabei por formar também o meu pereurso de leitor.
Vem então de uma família letrada.
Não. Da minha família recebi uma parte importante, que é a tradição oral.
As histórias que se contavam à lareira?
Não apenas as histórias que se contavam à lareira mas também os romances tradicionais. Uma das grandes alegrias que tive foi descobrir, num cancioneiro de romances tradicionais da Madeira que publicaram recentemente, que uma das pessoas escutadas é a minha avó materna. Aqueles romances fizeram parte da minha infância. O meu pai é pescador e essa relação com uma vida artesanal e próxima dos elementos primeiros acabou por determinar também um certo tipo de olhar ou uma disponibilidade para. Depois, no meu percurso como estudante tive então acesso ao conhecimento que nos chega pelos livros e pela literatura. Na primeira infância, o registo é sobretudo o da oralidade. é interessante que mesmo a Bíblia me chegou por tradição oral. Lembro-me de ter ouvido pela primeira vez o Cântico dos Cânticos e de ter ficado absolutamente colado ao chão. Ouvi-o de uma mulher que era analfabeta e que nem sabia que estava a recitar um livro bíblico. Ela sabia de cor um dos cantos do Cântico e eu pedi-lhe várias vezes que mo repetisse. Uma das grandes surpresas da minha vida foi encontrar mais tarde aquele texto escrito. De maneira que essa marca da oralidade é algo que penso que me dá uma abertura muito grande e que é também uma marca de ouvido. No sentido de que sei que antes de existirem os livros há a conversa humana A literatura tem também de ser fiel à conversa humana. Àquela conversa que nós fazemos em segredo, que as gerações transmitem. À conversa que marca os grandes ritos de passagem. À conversa que são as palavras que servem para dizer o medo e o amor, a dor e a eloquência de estarmos sobre a Terra.
Qual é o traço mais forte da sua memória de infância?
Penso que o que me marcou mais na infância foi o espaço. A dimensão da Terra. Lembro-me de ser muito miúdo e de estar à janela a olhar, simplesmente. Lembro-me de ser muito miúdo e de estar na cama a ouvir bater o mar. Lembro-me de ser miúdo e de estar no pequeno cais da minha terra a ver os barcos que chegavam, a olhar um ponto distante. A dimensão do espaço vazio, dos baldios.
Que vieram mais tarde a ser titulo de um dos seus livros.
Penso que isso de certa forma é o começo.
Já com a noção de insularidade presente ou a ideia de que estava numa ilha ainda não existia?
O mundo é um lugar muito insular. O mundo, em si.
Podemos é não ter consciência disso, se à nossa volta for tudo horizonte.
Penso que a ideia de insularidade nasce já num estádio mais avançado da consciência, quando temos determinadas necessidades a que um certo espaço ou uma certa sociedade não consegue responder. Aí, sentimos a insularidade. A insularidade é uma experiência de tipo psicológico. Podemos estar numa ilha pequena e sentir a vastidão daquele lugar. Retorno aos lugares da minha infância e sinto-os como lugares de grande vastidão.
Ainda hoje?
É interessante porque uma infância passada numa ilha - e uma ilha pequena como é a Madeira - podemos pensar que é uma infância muito limitada. Mas eu descrevo a minha infância como, sei lá, as aventuras de Marco Polo ou coisa assim. Porque descobrimos no pequeno espaço portas e possibilidades e parece que a terra se desdobra e que é ilimitada
O primeiro poema do seu primeiro livro chama-se «A infância de Herberto Helder». Quis escolher Herberto Helder como patrono da sua obra poética ao nomeá-lo tão explicitamente no seu primeiro poema publicado em livro?
Lembro-me de a certa altura, quando esse poema foi escrito - e foi de facto um dos primeiros poemas que escrevi -, ter sido muito importante para mim a leitura de Photomanton & Vox [livro de Herberto Helder publicado em 1979]. Recordo-me perfeitamente de andar pela montanha, sozinho, na ravina, pendurado numa pedra, deitado entre as ervas a ler esse texto, a sublinhar. Esse livro foi sem dúvida uma obra seminal em mim.
Foi nessa altura que escreveu «A infância de Herberto HeIder»?
Foi nessa altura. E mais do que buscar o Herberto Helder como patrono, foi a consciência, já então, de que o verdadeiro encontro connosco próprios é um encontro não directo. Tal como não se pode ver a Deus face a face também não nos podemos ver a nós próprios face a face.
O encontro é sempre mediado?
Sempre. Nenhum de nós viu o seu rosto. Vemo-lo num espelho mas o rosto, de forma directa, é uma coisa que nos está vedado ver.
Por isso, ao escrever a infância de Herberto Helder estava a escrever a sua própria.
A minha própria infância, claramente. Até porque a infância de Herberto Helder acontece na zona urbana da Madeira e a infância que esse poema descreve é evidentemente uma infância rural.
Portanto, mais sua do que dele.
Sim. Mas à luz que as palavras dele me traziam.
Não o conheceu na Madeira, evidentemente.
Não. Conheço-o apenas dos livros.
Não o conhece pessoalmente?
Não, não o conheço. E assim está bem.
Sendo poetas que publicam na mesma editora supus que já teriam tido a oportunidade de se encontrarem.
Penso que há muitas formas de encontro. Compreendê-las ajudanos a fazer caminho.
De que família poética sente fazer parte?
Nunca sabemos bem de onde somos, não é? Lembro-me sempre de uma frase de Ruy Belo que diz que a melhor forma de homenagem a um poeta que amamos é não lhe devermos nada Não termos para com ele nenhuma dívida na nossa própria escrita.
Mas há famílias poéticas.
Sim, há famílias poéticas. Prefiro deixar esse trabalho para os críticos. Eles que me identifiquem a família
Já suspeitava de que me responderia desse modo até porque num dos poemas de O Viajante sem Sono escreve que o poema pode conter «correntes marítimas em vez de correntes literárias».
Penso que sim. A poesia é um caminho solitário. Claro que devemos muito aos outros e devemos muito a uma determinada tradição poética. Não seria quem sou se não tivesse lido e amado os poetas que leio e amo. Mas depois ficamos, como dizia o Truman Capote, a sós com aquilo que amamos.
Explique-me agora, por favor, esta frase sua: «A poesia é a arte de resistir ao seu tempo.»
A poesia é uma ciência de resistência
Mas em que sentido é que diria que escreve contra o seu tempo, contra este tempo em que vivemos?
É a única maneira de o iluminar. Se o pau de fósforo não se risca não se acende. A poesia é uma tensão. A poesia é uma turbulência, é um tumulto, é um sobressalto. Nesse sentido, caminha contra o seu tempo. Caminha contra os ventos que sopram. Acentua uma determinada solidão. Esse é o seu contributo ao seu tempo: olhá-lo de mais longe.
Sente-se, ao escrever, a praticar um exercício de distanciamento em relação ao que o rodeia?
Sinto-me responsável por sondar outros pontos de vista. Sinto-me responsável por fugir às vozes dominantes. Sinto-me responsável por escutar aquilo que fica em silêncio.
Isso supõe que corre algum tipo de risco ao escrever?
Absolutamente. Escrever é um risco.
Que risco sente que corre a cada poema que escreve?
Não é um risco exterior mas interior. O risco que corremos é, no fundo, quando desconstruímos ou quando refazemos o caminho ou quando nos colocamos deliberadamente do lado da pergunta, podermos ficar evidentemente com as mãos vazias. Podemos perder-nos na floresta. Podemo-nos confrontar com aquilo que ignoramos, não com aquilo que temos. Tornarmo-nos mendigos, pobres, nómadas. Perdermos o tecto que nos cobria
Alguma vez se sentiu à beira de perder, na sua poesia, o tecto que o cobre?
Sim. Muitas vezes.
No sentido literal ou apenas no sentido figurado?
Quanto mais poético mais verdadeiro. [Riso.] A poesia - e aí ela não é diferente da vida espiritual ou da experiência espiritual mais autêntica - é um exercício de nudez. É uma redução. Aumenta a pobreza, não diminui. Aumenta a sede, não a sacia. A poesia é para aumentar a sede, como a experiência de fé é para aumentar a sede. Poema a poema, a poesia são golos de água que nos tomam mais sedentos. Nesse sentido, é uma experiência humana muito mais exposta. A poesia dá-nos o sentido profundo da nossa fragilidade e da nossa vulnerabilidade. E da aceitação disso.
O que é que obtém em troca?
Nada. Não se obtém nada. A poesia é uma viagem até ao fundo de nós mesmos e não ganhamos nada com isso.
Ganha-se eventualmente um certo reconhecimento do mundo.
Isso é o maior dos equívocos.
Ou pelo menos do pequeno mundo literário.
Essa é a maior danação. Porque o nada, a experiência radical de gratuidade, o vazio, o silêncio são a única recompensa. A viagem é a única recompensa Como no poema do Kavafis sobre o regresso a Ítaca: Ítaca não nos dá nada, dá-nos apenas a viagem, a procura a indagação. A poesia não nos dá nada. A poesia não me deu nada.
Deu-lhe reconhecimento intelectual.
Isso é sempre uma coisa que nos coloca em dúvida. O sermos reconhecidos não quer dizer que sejamos conhecidos. Aquilo que o sistema de reconhecimentos e de correspondências estabelece num tempo é sempre também o resultado de uma série de factores. Da poesia de hoje qual é aquela que resiste verdadeiramente ao tempo? É algo a que nós não sabemos responder. Desconfio sempre e procuro manter um distanciamento crítico em relação a um reconhecimento público da minha poesia e da poesia.
É imune à alegria natural de ser aplaudido, citado, reconhecido?
Entendo a minha vida também como serviço. As palavras também servem. A poesia traz à vida alguma coisa de que ela precisa. Nesse sentido profundo alegro-me. Mas sei que a poesia é esse exercício - se quisermos - de esvaziamento. Isso é o mais importante. Seria ridículo e até um pouco banal, depois de se escrever um livro voltar a encher esse espaço vazio - muitas vezes conquistado à força, em luta, batendo na pedra dura, gastando dias e dias e gastando-se a si mesmo - com ruído supérfluo. Para mim, o importante é onde o poema me coloca em termos da minha consciência do que é a vida, do seu significado. Como é que o poema contribui para a aventura humana. Não é um exercício de satisfação e ainda menos de auto-satisfação.
O que me está a dizer, levado às últimas consequências, significa que poderia limitar-se a escrever os poemas que escreve sem os publicar.
Não. A publicação tem uma dimensão de partilha. Não é a partilha em função de uma escala social que temos de subir ou de um reconhecimento público que daí nos vem e nos satisfaz. Mas é em função da experiência humana. Tal como há homens que durante a noite fabricam o pão, o poeta durante a sua noite fabrica os versos, que são uma forma de pão.
Na sua poesia, sente-se mais frequentemente apóstolo ou apóstata?
O verdadeiro apostolado é uma forma de apostasia.
Isso é um paradoxo.
Penso que é no paradoxo que a poesia e a fé se entendem. Ou que se entendem melhor. Não se entendem sem uma linguagem paradoxal que é, no fundo, conduzir a realidade ao seu extremo, à sua radicalidade.
Perguntei-lhe isto porque há um poema seu em prosa - o último poema do livro Estrada Branca – onde escreve que «o poema é uma forma de apostasia».
O poema é uma forma de apostasia.
De que modo?
No sentido de que o poema nos reconduz aos espaços em branco que trazemos.
A apostasia é o renegar da fé.
Ou o renegar de uma determinada fé. É uma aprendizagem. É um recolocar da vida numa certa infância.
Mas em termos puramente religiosos a apostasia não é um pecado?
Depende do que queremos dizer com apalavra «apostasia». A Deus nunca ninguém o viu, diz-nos o Evangelho de São João. Nesse sentido nunca somos apóstatas. Porque o horizonte de verdade é, em última análise, invisível. Está em revelação. Temos de aceitar as representações, acolhê-las, perceber o seu significado e ultrapassá-las. Temos de escrever o poema de Deus para apagar o poema de Deus. E de apagar o poema de Deus para escrever o poema de Deus.
A que fé renega, então, ao apostasiar em cada poema?
Penso que o poema reflecte sobre a experiência humana. É uma meditação sobre a experiência humana. É a essa fé naquilo que vamos construindo, nesse recuo ou avanço crítico - como se quiser - que o poema estabelece. Nesse sentido, os poetas são apóstatas. Não é sem razão que Platão os deseja fora da cidade política. Porque o poeta está muito mais próximo do mito do que da linguagem política que funda a organização da cidade.
Não se sente apóstata, então, no sentido religioso do termo.
É no sentido humano. Não é no sentido religioso, embora a poesia torne mais exigente a indagação por Deus. E a indagação humana é só uma.
É que a palavra «apostasia» tem uma carga sobretudo religiosa.
Eu sei. Eu sei. [Riso.]
Sabe-o de certeza muito melhor do que eu.
Melhor não sei se será. Mas sei. Isso a mim interessa-me porque a modernidade também desloca... Hoje vivemos religiosamente dimensões que são puramente humanas ou até trivialmente quotidianas. E vivemo-las de forma religiosa.
Dê-me um exemplo.
O exemplo mais claro é o dos movimentos de massas. Por exemplo, o futebol. Ou falar dos centros comerciais como «catedrais do consumo». Transferiram-se para o horizonte puramente secular as dimensões do religioso e vive-se aí com as mesmas tensões, com a ritualidade... Hoje, as grandes ritualidades são laicas. São integradas nos dinamismos societários. Nesse sentido, importa-me fazer a arqueologia de uma determinada linguagem religiosa e utilizá-la em termos poéticos, como vocabulário, para desconstruir a nossa própria experiência comum.
O que é que nos diz, acerca da experiência religiosa hoje em dia, o facto de essa experiência ter sido deslocada para aspectos tão frívolos como esses que referiu?
Não sei se são frívolos. São apenas aspectos. Isto é, são fragmentos. Penso que hoje em dia o problema antropológico maior é essa absolutização dos fragmentos. É quando passamos a viver sem uma capacidade de construirmos uma unidade. Vivemos fracturados. É talvez essa fractura a grande dor do nosso tempo. Penso que o discurso religioso é um discurso exigente porque nos obriga a mergulhar mais profundamente na nossa experiência e a não repousar naquilo que pode atenuar a dor. O discurso religioso - pelo menos aquele que está mais próximo de mim, aquele que procuro - põe a vida a nu, põe o coração a nu. Não é um abrigo, é o desabrigo. Não é um lugar onde chegamos, é o lugar de onde partimos. Não é uma coisa que sabemos, é uma abertura para a imensidão que se revela.
Não é então conforto, é desconforto.
Não é conforto, é ... prefiro dizer «desabrigo». É espaço aberto.
Mas ao haver essa transferência de aspectos de natureza religiosa para circunstâncias de natureza secular, isso significa que o poder da religião está a sofrer uma erosão?
Penso que hoje a religião é mais poética. Está mais do lado da poesia, daquilo que a poesia significa.
Acredita que a poesia ainda tem hoje um papel importante na sociedade laica e secular em que vivemos?
Pergunte a si mesmo.
Gostava era de ouvir a sua resposta, que será seguramente melhor do que a minha.
Que cada um pergunte a si mesmo. Penso que a experiência humana nos aproxima, ainda que às escuras, do horizonte poético mais fundo. As grandes experiências humanas estão do lado do inefável, do intraduzível, do sem nome, do silêncio. Como aqueles cães que abandonamos e que depois voltam à porta da nossa casa, assim é a experiência poética. E hoje penso que a religião volta a estar mais próxima da poesia.
Falou do inominável e uma palavra a que recorre com frequência é a palavra «mistério». Acha desejável tentar decifrar esse mistério ou sente isso como um dos perigos do nosso tempo?
Se tentamos decifrar o mistério ele torna-se um mistério sempre maior. Nós, hoje, temos uma grande dificuldade em aceitar o enigma. Por isso cancelamos tão facilmente os lugares sem resposta. Lugares que nos são trazidos pela própria experiência do mundo. Por exemplo, no meio das cidades nós não sabemos o que fazer com um dia de chuva. Ou não sabemos o que fazer do vento, dos trovões, dos relâmpagos. Como não sabemos o que fazer do espaço aberto, por isso o enchemos rapidamente de betão. Ou como não sabemos o que fazer do espaço litoral, do mar, por isso o enchemos de torres e de entraves. Temos dificuldade em lidar com aquilo que não nos dá uma resposta.
Vendo a questão de outra perspectiva pode dizer-se, no entanto, que hoje já não estamos tão expostos a esses elementos como estávamos no passado.
Porque nos defendemos muito.
Não encara isso como uma conquista?
Não sei. Se, em termos técnicos, a nossa sociedade progrediu imenso, evidentemente, a verdade é que em termos humanos não somos mais sábios do que um poeta chinês de há cinco mil anos. Em termos do conhecimento do que é o Homem, do que é o seu destino.
O sábio chinês de há cinco mil anos, se fosse míope, para dar um exemplo comezinho, não teria a possibílidade de ver o suficiente para ler e escrever e dar expressão a essa sabedoria, por não ter uns óculos como esses que o José Tolentino Mendonça hoje usa.
Mas sabe, quando os olhos falham podemos ler com os dedos; e quando os dedos falham podemos ler só com a pele; e quando a pele falha podemos ler pela ausência. Hoje há uma certa obstinação em perpetuar os meios e as formas que nos dão uma certa segurança. Isso, ao mesmo tempo que é um tipo de progresso, é também uma condenação a uma certa miséria simbólica, para usar a expressão do Bourdieu. Vivemos tempos de miséria simbólica.
A linguagem simbólica não se caracteriza por uma incapacidade de compreensão racional do mundo?
Na ideia tradicional de que primeiro existiram os mitos e que depois veio a razão e a filosofia, é assim. Mas toda a nossa tradição ocidental nos obriga a perceber que não há uma sucessão. O conhecimento racional não é aquilo que supera o conhecimento mitológico ou simbólico.
Vão a par?
Vão a par e há zonas do humano, há zonas do nosso mundo interior e do próprio mundo que só o coração é capaz de perscrutar e só o símbolo é capaz de dizer. O símbolo não é o pré-racional. Nós dizemos em símbolos aquilo que não conseguimos dizer de outra maneira. Nesse sentido, o conhecimento simbólico, a ciência simbólica é perene porque o Homem é um lugar de perguntas, mais do que um armazém de respostas.
 Luta de Jacob com o anjo (Delacroix)
Luta de Jacob com o anjo (Delacroix)
Suponho que ao entrarmos nesta questão estaremos a entrar no aspecto essencial que provocou a divergência entre si e José Saramago no frente-a-frente em que participaram, a propósito da polémica sobre a Biblia.
Sabe, a esse respeito sinto-me mais perto daquilo que dizia o Jorge Luis Borges: que a dificuldade dele, Borges, não era perceber que há um livro sagrado; porque quem lê, quem ama os livros, quem recebe deles vida, horizonte, sabe que essa experiência é uma experiência tão umbilical, tão intangível, tão infinita que é uma experiência sagrada.
Nesse sentido a Odisseia pode ser lida como um livro sagrado.
A grande dificuldade de Jorge Luis Borges era precisamente essa: era não dizer que a Odisseia é um livro sagrado. Ou não dizer que um livro de Herberto Helder é um livro sagrado. A minha questão, o meu debate é mais esse do que o contrário.
Não é tanto impedir a Bíblia de ser dessacralizada mas mais uma necessidade de reconhecer um papel sagrado em todos os livros que foram importantes para si.
Para mim, o ponto mais fecundo é perceber como a poesia me avizinha do sagrado. Como os livros que se estão agora a publicar são também textos que dialogam com o sagrado e de certa forma são novos textos sagrados.
 Mulheres junto ao sepulcro vazio de Jesus (Fra Angelico)
Mulheres junto ao sepulcro vazio de Jesus (Fra Angelico)
Posso entender então que reclama também para os seus livros a ideia de que, para quem os souber ler, eles venham a ser de algum modo textos sagrados?
Há um aspecto da minha poesia em que insisto muito, que é a sua dimensão de profanidade. São textos profanos.
Por isso é que, como diz num poema, o poema pode conter «um disco dos Smiths».
Exactamente. A ideia do profano, a ideia do terrestre é a única condição que nos aproxima do sagrado. Quanto mais mundano mais divino. Isto que parece um paradoxo é no fundo a grande herança cristã, a herança de acreditarmos num Deus que se faz homem.
Que papel é que ainda atribui à poesia?
Penso que a poesia é uma arte da escuta. Nesse sentido, a poesia é um contributo fundamental para a audição do dizível e do indizível, do visível e do invisível. É um contributo. São Tomás de Aquino dizia que como a poesia avança por similitudes, avança por metáforas, por comparações, é a mais ínfima das artes. É uma definição que pode arrepiar. Tenho essa citação da Suma Teológica escrita na porta do meu quarto. Sinto-me sempre muito perto daquilo que os poetas chineses diziam: varro o meu pátio e vou buscar água ao poço. Isso é a poesia. Não penso que a poesia necessite de um estatuto superior à das tarefas humanas mais essenciais: como amassar o pão, como cuidar de um filho, como regar o jardim. A essas tarefas humanas essenciais a poesia junta-se com muita naturalidade. Não penso que os poemas salvem o mundo.

Mas acredita que um poema pode salvar alguém?
Penso que é possível o poema salvar, se num determinado contexto o poema for dito por um justo ou for lido por um justo. São os justos que salvam o mundo. Se o poema for uma forma radical de justiça, o poema salva. Se não, há-de ficar como um ornamento.
Já sentiu alguma vez que um poema - ou um só verso - contribuiu, por pouco que fosse, para a sua salvação?
Sinto isso em momentos-chave da minha vida, em momentos de encruzilhada, e sinto-o quotidianamente.
Sente-o mais frequentemente com versos de outrem ou com os seus próprios?
Sempre com versos de outrem. Nós não nos salvamos a nós mesmos. A salvação é sempre um dom. Nós vivemos uma luta pela sobrevivência e há uma série de tarefas que temos de realizar também em função de nós próprios. Mas penso que essa experiência da salvação é uma experiência que só o outro me pode oferecer, só o outro me pode salvar.
Tem presente algum verso que tenha sido para si tão poderoso a ponto de o incluir nessa sua antologia pessoal de salvação?
Há por exemplo um poema de Rilke que muitas vezes rezo: «Fecha-me os olhos - ainda posso ver-te / Tapa-me os ouvidos - ainda posso ouvir-te». Este é um poema que me ajuda a viver.
Entrevista: Carlos Vaz Marques
Fotografia: Pedro Loureiro
In Ler (Dezembro 2009)
06.12.09

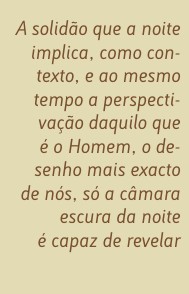
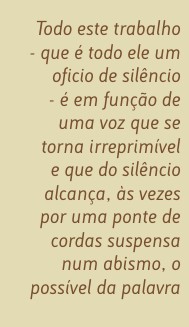
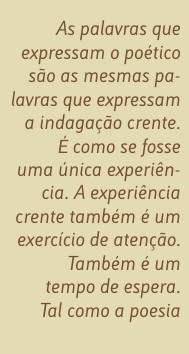
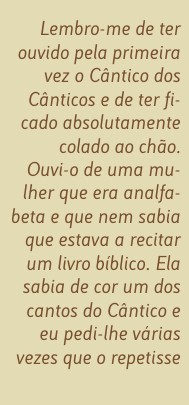
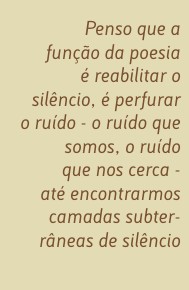
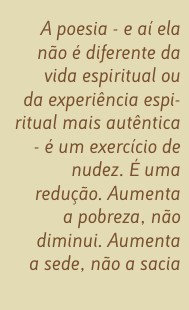
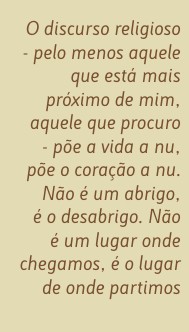
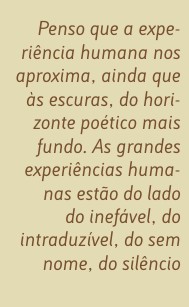
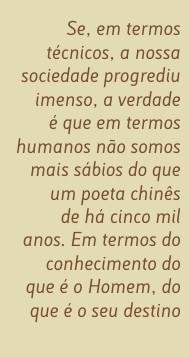
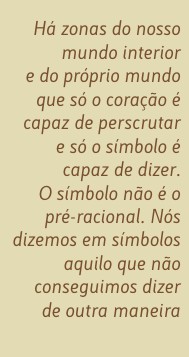
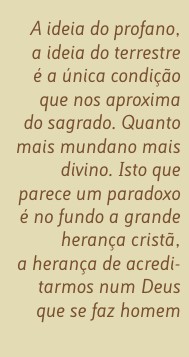
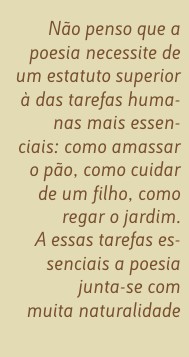
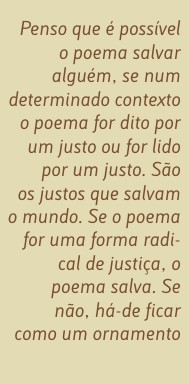
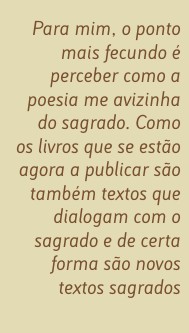
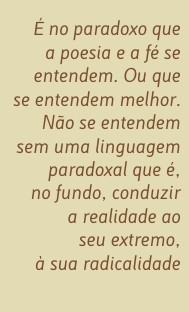
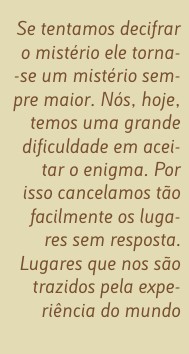
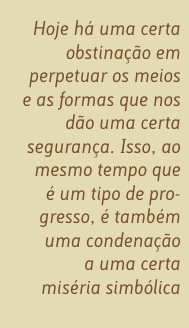
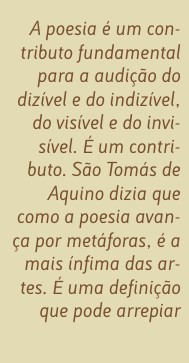
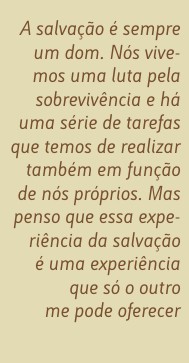
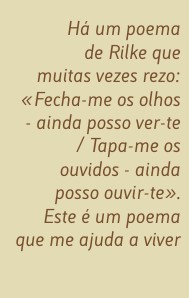
António Lobo Antunes: De profundis
Curso livre: Igreja Lisbonense nos séculos XVIII e XIX
O Evangelho das imagens | IMAGENS |
Advento: tempo de unir o que está separado
«A fé é claramente nocturna». Entrevista de José Tolentino Mendonça à revista Ler
Breves:
Calendário do Advento
Seis órgãos da Basílica de Mafra tocam pela primeira vez em simultâneo
Conselho Pontifício da Cultura tem novo secretário
Roteiro apresenta presépios para valorizar obras de arte e de fé
Música: Dixit Dominus
Ciclo de Canções de Natal
Presépio com 3500 figuras | VÍDEO |
Concertos, exposições, conferências: Mais de 100 eventos na nossa Agenda