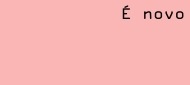Entrevista
O cristianismo, graças a Deus, venceu a tentação de declarar inimigos
Entrevista do P. José Tolentino Mendonça ao jornal «i» (26.12.2009).
Vamos perder um pouco de tempo com Deus. Não tanto devido à quadra natalícia como devido a si: pode falar-se de José Tolentino de Mendonça como poeta, homem de cultura, intelectual brilhante, mas não se deve falar de si sem o ligar a Deus – pois não?
Eu sinto que a procura de Deus é a dimensão mais forte da minha existência. Em última análise é dessa procura – humilde, inacabada, sempre a ser refeita – que me alimento. vivo na sua expectativa, deslumbro-me com a revelação surpreendente e polifónica da sua presença, sofro e interrogo o seu silêncio... Com a consciência profunda, porém, de que estes contornos mais intensos ou mais frágeis da minha procura não são os mais importantes. Importante é, nas horas da graça ou naquelas de densa escuridão, saber-se buscado, saber que é Deus quem nos procura...
Quando é que Ele se tornou obrigatório? Obrigatório como respirar?
Uma amizade não começa no momento em que é explicitada. Para chegar a ser explicitada tem primeiro de crescer em silêncio nos corações, de construir lenta e misteriosamente em múltiplos encontros, de se consolidar num tráfico íntimo de sinais... Há uma frase de Blanchot que explica deste modo a forma como todos experimentamos a amizade: “Já éramos amigos e não sabíamos.” A amizade com Deus é a mesma coisa. Quando é que Ele se tornou obrigatório? Tenho de responder, para ser verdadeiro: muito antes que eu o soubesse. Vêm-me à cabeça aqueles versos de Mário Cesariny: “Tu está em mim como eu estive no berço. / Como a árvore sob a sua crosta. / Como o navio no fundo do mar.”
Mas como “percebeu” que Deus estava a falar consigo? Nesse “silêncio no coração” que agora evocou?
“A Deus nunca ninguém o viu”, diz-nos S. João. O nosso encontro com Deus é, nesta nossa condição histórica, um encontro mediado. Eu diria que, no meu caso, esse encontro foi decididamente mediado pelo espanto. Descubro-me enamorado de um espanto fundamental. Não consigo tirar dali os olhos ou o coração. Não é só o assombro perante “a espantosa realidade das coisas”, de que Fernando Pessoa falava, e que em si mesmo já é tanto! O maior assombro é pela vocação divina do homem que está em nós inapagavelmente inscrita. Quando o que sabemos de Deus nos constrange, nos cerca, nos pressiona, nos compromete, nos deixa sem saída (e estou a citar palavras de dois crentes, S. Paulo e o profeta Jeremias), então percebemos que é connosco que Deus está a falar.
O que determina antes de mais a sua relação com Ele? No seu caso particular, pessoal, é possível definir os laços que tecem essa espécie de dependência?
Há uma oração que aprendi, e dizem-me que se reza em Taizé: “Senhor, estou aqui à espera de nada.” Com o tempo, esta oração tem-se tornado a paisagem de fundo do meu caminho espiritual. Acho que posso dizer que vivo na dependência de Deus. Jesus Cristo é o objecto da minha fé. Com todas as minhas falhas e incertezas, procuro que a sua humanidade se torne inspiração para a minha. Mas peço a Deus a liberdade e a gratuidade necessárias ao amor. Eu não creio para que Deus me facilite a vida ou a resolva por mim. Os místicos ensinam que “a rosa é sem porquê”.
O seu caminho em nome dessa “rosa sem porquê” tem sido, tal como ocorre com a vida, marcado por etapas, por estações diferentes? E também, como na vida, por sobressaltos, debilidades, angústias?
Não me revejo nada em descrições assépticas ou formatadas da experiência religiosa. A fé não e instantânea, é um caminho. No célebre ensaio de Unamuno ele fala da “agonia do cristianismo”. O cristianismo é agónico, dá luta. Alguns passos bíblicos relatam uma luta literal, como aquele passo extraordinário da luta de Jacob com o anjo. Nessa luta entram todas as nossas interrogações e dúvidas, que na minha opinião desempenham um papel muito mais importante que aquele que lhe reconhecemos.
E há também a poesia, a sua fulgurante e tão sussurrante poesia... Que quase nos põe em sentido perante o que está para além de nós, e nesse sentido deveria ser indizível – mas para si não é... Pode ela significar a paz do guerreiro alistado nessa luta que assumiu? Ou pelo contrário escrever poesia faz parte dessa luta?
Quem lê os meus versos à procura da nomeação de Deus pode até ficar desiludido, pois a nomeação explícita de Deus é escassa. Sou um poeta profano. Pode parecer paradoxal, mas essa é também a minha forma de testemunhar o religioso.
Escreve todos os dias? Escreve sempre?
Acho que o sentido por excelência de um escritor é o ouvido. E, mesmo se não escrevo todos os dias, estou sempre atento à conversa humana, às palavras, ao seu ritmo, á sua temperatura. Estou sempre a tomar apontamentos, pequenas anotações. E daí parto para outras associações, preencho lacunas, continuo frases. Essa é a minha oficina.
Ainda a propósito de palavras: andou de roda da Bíblia, estudou-a, reflectiu-a, traduziu-a. Fruto disso estão aí dois belíssimos volumes com a sua “assinatura”. Um dia o sacerdote-poeta resolveu pegar na Bíblia e dar-lhe actualidade e premência na nossa língua?
Sinto que esse é um dos contributos que sou chamado a dar. A Bíblia é o grande código para entender imaginação, razão e coração, pelo menos do mundo ocidental. E é preciso não esquecer que a própria irrupção da modernidade primeiramente se formulou como reivindicação do acesso à Bíblia. Ela é o subtexto necessário para entender a fundo expressões muito diversas da nossa cultura. A poetisa brasileira Adélia Prado diz com graça e pertinência: “tudo é Bíblia”, no sentido em que ela está por todo o lado na chamada cultura erudita e na cultura popular. Além desta incomparável valência cultural, a Bíblia é sobretudo um texto religioso, um marco identitário, uma referência onde o divino e o humano se encontram, uma palavra peculiar.
Falou de um marco identitário. Mas como lidar com a atitude ou as vozes que dizem Deus hoje desaparecido por trás da agonia dos valores? Da decadência da civilização ocidental, da ditadura do relativismo, da vertigem do politicamente correcto, da demencial violência dos dias e por aí fora? É verdade, como comodamente se faz crer, que nunca foi tão difícil falar de Deus como hoje?
O problema não é falar de Deus. Um dos livros que mais me impressionaram na vida foi as «Cartas/Diário» de Etty Hillesum. Essa extraordinária rapariga de Amesterdão, que numa das horas mais sombrias do século XX, se oferece como voluntária para m campo de concentração mostra-nos que é possível falar de Deus mesmo nos sítios mais dolorosos do mundo e mais recônditos da alma. Nenhum Auschwitz cala a poesia de Deus! O problema é o homem. É a implacável redução do que o homem significa. É a fragmentação que nos estilhaça e nos deixa sem possibilidades ou com muito menos possibilidades de aceder a uma exigência autêntica.
É excessivo dizer que o povo cristão se sente ameaçado, humilhado? Que há que o olhe quase já como uma minoria que tem de pedir desculpa, justificar-se e explicar-se? Há uma guerra religiosa no horizonte, ou mesmo já iniciada?
O cristianismo atravessa uma estação de turbulência, no embate deste processo – em grande medida ainda em curso – de recomposição dos itinerários da humanidade e também dos da crença. Há indicadores que atestam uma erosão: a diminuição da prática religiosa e do número dos que se declaram cristãos; a fragilização da presença do religioso no espaço público; uma certa desqualificação cultural que hoje rodeia o cristianismo (é isso, como se o homem de fé tivesse de explicar-se para o ser); o reforço de uma militância anti-religiosa que se vê, por exemplo, na ideia avulsa de que as religiões são responsáveis pela violência que grassa no mundo ou na acusação de que os textos sagrados judaico-cristãos são um catálogo de intolerância e barbárie...
Então a minha pergunta faz sentido...
Mas, por outro lado, o cristianismo, graças a Deus, venceu a tentação de declarar inimigos. O cristianismo não tem inimigos. Os seus inimigos são a fome, o sofrimento, as injustiças e desigualdades, a ausência de sentido... Gosto de pensar no título de um livro de Albert Rouet, antigo bispo de Poitiers: A chance de um cristianismo frágil”. Estes tempos representam também uma oportunidade para o cristianismo reencontrar o seu rosto mais autêntico, mais profético. Talvez sejamos menos, mas temos o dever de ir mais fundo. Talvez sejamos mais pobres, e isso nos conduza a um estilo mais essencial e evangélico. Talvez tenhamos de deixar de ser a massa para redescobrirmos que a missão dos cristãos é ser criativo fermento.
A Igreja portuguesa vive hoje uma etapa ingrata ou trata-se de um entre parêntesis mais delicado, como outros no passado?
Este tempo é muito curioso, Maria João. Os indicadores não vão todos no mesmo sentido. Há, por exemplo, ente nós um decréscimo da prática ritual, que precisa ser interpretado de forma não unívoca, porque permanece e reforça-se a disponibilidade para a procura espiritual. Ao mesmo tempo que algumas paróquias se debatem com a rarefacção, os caminhos das peregrinações, por décadas e décadas completamente silenciosos, voltam a encher-se de vozes. E é preciso distinguir o que são indicadores europeus e a realidade do catolicismo noutras geografias. Veja-se a Ásia, onde se regista uma vitalidade esperançosamente primaveril. Nós somos tradicionalmente muito eurocêntricos, mas a verdade é que, ao longo da história, o centro do mundo se deslocou muitas vezes. Temos muito a aprender.
Como pode a Igreja percorrer a imensa distância entre a essência do Natal e a paganização crescente da sua celebração? Entre o consumo ofegante dos centros comerciais e o mistério da natividade? Ou seja, como deve a Igreja acompanhar os dias e os tempos?
A Igreja não deve simplesmente voltar costas à cultura. A cultura, como realidade vivida, nunca é a idealização que nós queríamos, mas é a realidade em bruto, onde os limites e as derivas saltam á vista. Os homens não são anjos. Pascal dizia que estamos a meio caminho entre a besta e o anjo. Seja o que for, é com esta cultura que a Igreja deve tentar um diálogo criativo, mantendo um distanciamento crítico e uma proximidade cordial, afectuosa. As dificuldades não são desarmantes, são desafiadoras.
D. Manuel Clemente, que acaba e ganhar o Prémio Pessoa, preside actualmente à Comissão Episcopal para a Cultura e José Tolentino Mendonça dirige o secretariado dessa comissão. Trabalham directamente um com o outro, conhecem-se bem, estimam-se muito. para lá do que se vê ou sabe, que nos aconselha a ver mais – ou a ver sobretudo – na figura do seu amigo Manuel Clemente?
D. Manuel Clemente é evidentemente uma figura maior deste tempo português, de que aliás é um escrutinador dedicado, agudo, inteligentíssimo e profético. Basta ler a sua magnífica colectânea de ensaios sobre a nossa história e cultura, «Portugal e os Portugueses», ou mergulhar nas suas homilias e escritos pastorais para ficarmos impressionados com a extensão e o fulgor da sua sabedoria. É muito revelador o fenómeno que se passa no Porto. Dou um exemplo recente: as primeiras mensagens que recebi a anunciar e a comentar a atribuição do Prémio Pessoa a D. Manuel Clemente foram de tripeiros do mundo da cultura, que tão têm sequer prática religiosa cristã, mas que se reconhecem com entusiasmo na cordialidade e na inteligência de um bispo que é capaz de se fazer ouvir num bairro social e na cátedra de uma universidade; que visita pastoralmente as paróquias e organismos da diocese, mas não deixa de tirar um bocadinho para dar um salto a uma livraria e fazer dois passos a pé pela cidade; um bispo que nas suas catequeses cita com igual maestria os vultos da história antiga e da contemporânea, os Padres da Igreja, e os poetas do seu tempo (Sophia, Fernando Echevarría, Daniel Faria). Vale a pena ouvir D. Manuel Clemente... Um dos traços constantes na sua leitura da realidade das pessoas e do mundo é a esperança. Lembro-me dele há 20 anos atrás, na equipa reitoral do Seminário dos Olivais, e de como ele nos desconcertava com um “é óptimo”, quando os juízos apressados que fazíamos sublinhavam sobretudo dificuldades. Criando em torno a si um ambiente de grande exigência, D. Manuel aplica de forma sistemática um olhar de esperança a todas as situações.
Vale a pena ouvi-lo, mas não estranhou que poucas horas após ser conhecida a notícia do seu prémio ela se tenha quase totalmente sumido da nossa vista e dos palco dos media?
O prémio representa uma forte chamada de atenção – é muito importante que o júri tenha referido a dimensão ética, porque há de facto um sentido profundo dos valores no pensamento e na acção de D. Manuel – mas claramente a atenção mediática é precária e circunstancial. Muitas vezes é só a cultura do folhetim, de que falava Hermann Hesse. Temos de complementá-la com outras formas, mais persistentes, de interesse e acompanhamento.
O Papa Bento XVI atendeu recentemente à importância da criação artística numa reunião com artistas que promoveu no Vaticano. O padre Tolentino foi o português que esteve presente em Roma.
O recente encontro de Bento XVI com os artistas quis explicitamente situar-se na esteira de experiências recentes de outros pontífices, nomeadamente Paulo VI, que na atmosfera do Concílio Vaticano II teve um encontro histórico com o mundo das artes e da inteligência precisamente na Capela Sistina (onde este de agora também ocorreu), e João Paulo II, que, no contexto do Grande Jubileu do Ano 2000, escreveu uma «Carta aos Artistas», que é um dos seus textos mais vibrantes. Bento XVI (apoiado na iniciativa do presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, Gianfranco Ravasi) reafirmou o património espiritual imenso que representa a amizade entre a Igreja e os artistas, sublinhando a necessidade de uma “aliança nova” para revitalizar a estética cristã. O discurso do Papa foi uma impressionante lição sobre a afinidade electiva que une a arte e o percurso crente na procura da verdade. Na ferida e no júbilo há uma espécie de pátria comum.
Ainda sobre o Papa posso pedir-lhe agora, mesmo que brevemente, um retrato, o seu retrato, de Bento XVI? Que mais o marca na sua figura?
A primeira vez que o ouvi, ainda era ele cardeal, foi no Colégio Português em Roma, onde veio presidir e fazer homilia na missa e estar ao jantar. Lembro-me que alguns de nós, que preparávamos nas universidades romanas as nossas teses de doutoramento, lamentámos o dia litúrgico marcado para a visita dele, pois não coincida com a festividade de nenhum grande teólogo (Santo Agostinho, S. Basílio, S. Tomás de Aquino), mas de uns então para nós obscuros santos André Kim, Paulo Chong Hasang e companheiros, mártires na Coreia. Que iria ele dizer de referências que nos pareciam tão distantes? A verdade é que, com um verbo luminoso e cultíssimo, ele uniu Oriente e Ocidente, e mostrou como o contributo apostólico dos santos de uma Igreja tão jovem como a da Coreia desafiava as igrejas da velha Europa. Não serei original, mas é isso que mais me marca: a força audaciosa da palavra de um mestre da fé e da humanidade.
Há uma viagem de Bento XVI a Portugal já agendada para Maio próximo. Sei que é o organizador-encenador de uma sessão cultural para o Papa no Centro Cultural de Belém. Qual o objectivo desse encontro?
O santo padre faz a sua visita a Portugal sob o signo da esperança. Vem como testemunha da esperança, em tempos de hesitação e de descrédito, dizer-nos o que vale a pena. Hoje a Igreja tem uma consciência acrescida de que o campo da cultura é um espaço privilegiado de procura e construção de sentido. Sabe como numa época que investe tanto na técnica há um défice grave de humanismo. É natural que Bento XVI queira dialogar com aquelas e aqueles que, em Portugal, nas artes, nas universidades, na ciência, no espectáculo, nos media, etc., são protagonistas da comunicação humana e criadores de cultura, nas suas várias acepções.
Qual é hoje o maior desafio que depara aos cristãos? Que lhes dê asas, mobilizando-lhes a vontade e a convicção nestes tempos que considerou de “hesitação e descrédito”?
O maior desafio é o de viverem na confiança (“Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos”) e no amor (“Deus amou de tal maneira o mundo, que lhe deu o seu próprio Filho”). Mas depois é como dizia Santo Agostinho: “Ama e faz o que quiseres”.
O país também vive dias assim, de “hesitação e descrédito”. Portugal aflige-o?
Olho-o com esperança e procuro contagiar outros. Temos de perder o medo.
Entrevista conduzida por Maria João Avillez
In «i», 26.12.2009
26.12.09

SNPC
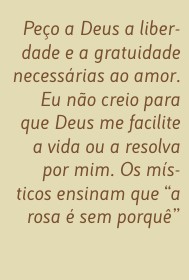
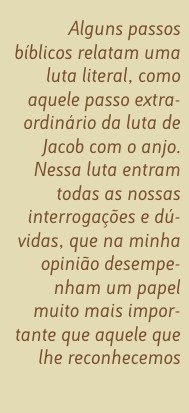
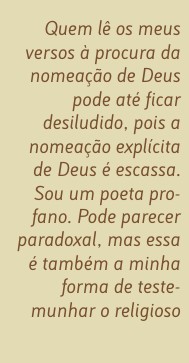
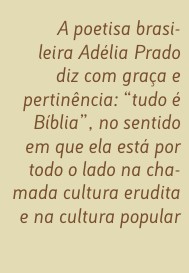
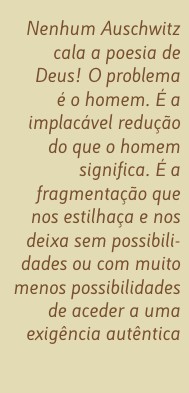
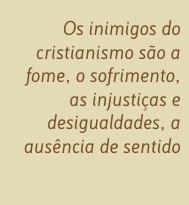
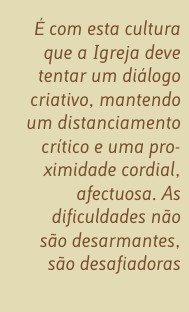
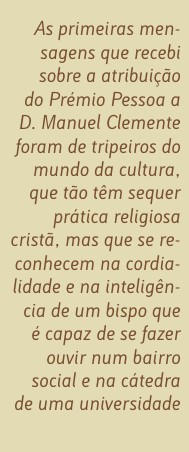
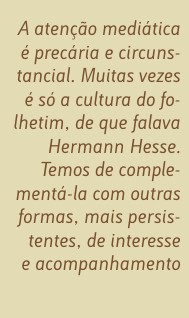
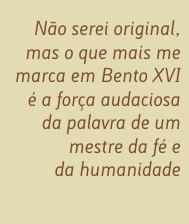
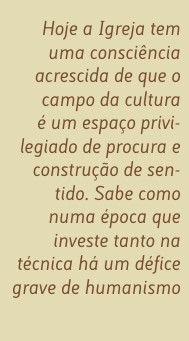
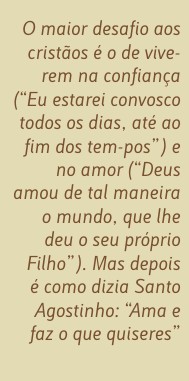
O Diário de Etty Hillesum - Introdução
Etty Hillesum: Cartas 1941-1943
D. Manuel Clemente distinguido com o Prémio Pessoa [IMAGENS]
Excertos de «Portugal e os portugueses»
D. Manuel Clemente: Maria na devoção dos portugueses - Uma devoção nacional? (De «Portugal e os portugueses»)
Guilherme d'Oliveira Martins apresenta «Portugal e os portugueses»
«Portugal e os portugueses»: uma leitura pessoal
Carta de João Paulo II aos artistas
Discurso de Bento XVI aos artistas
P. José Tolentino Mendonça: A fé é claramente nocturna - Entrevista à revista «Ler»
Festa da Sagrada Família: saber dar tempo ao tempo | IMAGENS |
Irmãs Clarissas: "As coisas do mundo dizem-nos tão pouco..."
Presépios do mundo em Santarém | VÍDEO |
Ó meu Menino | VÍDEO |
Santo Estêvão: o primeiro mártir cristão | IMAGENS |
Representações do Natal na arte | IMAGENS |
Natal: Longe de casa, próximo do Mistério
Natal no mundo | IMAGENS |
Breves:
Presépios das Aldeias do Algarve
Duas exposições sobre os presépios no património de Estremoz